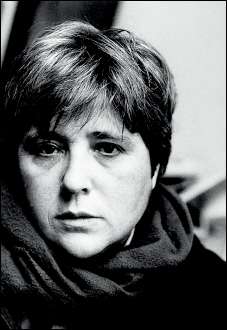24-5-2001
ANA LUÍSA AMARAL
(1956
-
)
| |
|
A
U
T
O
B
I
O
G
R
A
F
I
A
|
|
Nasceu
em 1956, onde nasceram 90% dos lisboetas (na Maternidade Alfredo da
Costa). Aos nove anos, mudou-se, por vontade alheia, de Sintra para
terras do Norte (Leça da Palmeira), tendo sofrido na pele a
estupidez da divisão Norte/Sul. Como era muito magrinha, estava em
minoria e tinha acentuada pronúncia da capital, foi várias vezes
atirada ao ar por colegas mais velhas da escola. Felizmente sempre
apanhada a tempo, acabou por ficar amiga de algumas. Leituras que
mais a marcaram: o Zorro (de que foi assinante desde os seis anos e
de que possui ainda hoje todos os números); Oito Primos; a colecção
completa de Os Cinco (nunca gostou de Os Sete); Ivanhoe; David
Crockett; Os Contos de Alhambra. Como não havia as antologias que há
hoje
de poesia pensada para um público infantil, nem os seus pais
tinham livros de poemas em casa (esses que os poetas costumam dizer
terem lido omnivoramente na infância), as suas influências literárias
principais vieram-lhe das várias Selectas Literárias do liceu. Poema decorado aos seis anos e recitado na escola de Sintra: "O
Passeio de Santo António". Andou, dos dez aos dezasseis anos,
num colégio de freiras espanholas muito pouco canónico (aí,
aprendeu a gostar de churros e a fazer rissóis de atum com tomate).
Frequentou a Faculdade de Letras do Porto, tendo-se licenciado em
Germânicas.
Deve
ter gostado tanto da Faculdade que por lá se
deixou ficar, como professora, até ao presente momento. Por necessidade de carreira, tinha que fazer
doutoramento. E fez; sobre
Emily Dickinson, cujos poemas a fascinam tanto como a fascinara o
Zorro. Pelo caminho, foi publicando livros de poemas. Vive ainda em
Leça da Palmeira, tem uma filha de doze anos chamada Rita, uma gata
chamada Muffin e uma cadela chamada Lili (Marlene).
Ana
Luísa Amaral
1998
|
|
|
|
|
ANIVERSÁRIO
Sentei-me
com um copo em restos de
champanhe a
olhar o nada.
Entre crianças
e adultos sérios
Tive trinta
em casa.
Será
comovedor os quatro anos
e a festa
colorida
as velas mal
sopradas entre um rissol
no chão e
os parabéns:
quatro anos
de vida.
Serão
comovedores os sumos de
laranja
concentrados (proporções
por defeito)
e os gostos tão
diversos, o
bolo de ananás,
os pés
inchados.
Será
soberbamente comovente
toda a gente
cantando,
o mau
comportamento dos adultos
conversas-gelatinas
e os anos
só
pretexto.
Mas eu
gostei. E contra mim gostei
mesmo no
resto:
este prazer
pequeno do silêncio
um sapato
apertando descalçado
guardanapo e
rissol por arrumar
no chão e
um copo
olhando o
nada
em restos de
champanhe
|
|
|
| |
COISAS DE LUZ
ANTIGAS
Aquele
namorado que tinha
um nome bom: há quanto tempo foi?
A vida resvalante como gelo
e aquele namorado de nome bom
e férias, ficou perdido em luz,
mais de vinte anos.
Deu-me
uma vez a mão
um beijo resvalante à hora de deitar
e na pensão. Mas tinha um nome bom.
falava de cinema e calçava de azul
e um bigode curtinho,
que escorregou aceso como gelo
no centro da pensão.
Rasguei
as cartas dele
há quinze anos, em dia de gavetas
e de luz, e nem fotografia me ficou
de desarrumação. Mas tinha um nome bom,
falava de cinema e calçava de azul
e resvalou-me quente como gelo
à hora de deitar:
um
namorado sem falar
de amor
(que
a timidez maior
e o quarto dos meus pais
nessa pensão
no mesmo corredor)
|
|
|
VISITAÇÕES,
OU POEMA QUE SE DIZ MANSO
De
mansinho ela entrou, a minha filha.
A
madrugada entrava como ela, mas não
tão de mansinho. Os pés descalços,
de ruído menor que o do meu lápis
e um riso bem maior que o dos meus versos.
Sentou-se
no meu colo, de mansinho.
O
poema invadia como ela, mas não
tão mansamente, não com esta exigência
tão mansinha. Como um ladrão furtivo,
a minha filha roubou-me a inspiração,
versos quase chegados, quase meus.
E
mansamente aqui adormeceu,
feliz pelo seu crime.
|
|
|
| |
|
LUGARES COMUNS
Entrei em Londres
num café manhoso (não é só entre nós
que há cafés manhosos, os ingleses também,
e eles até tiveram mais coisas, agora
é só a Escócia e parte da Irlanda e aquelas
ilhotazitas, mais adiante)
Entrei em Londres
num café manhoso, pior ainda que um nosso bar
de praia (isto é só para quem não sabe
fazer uma pequena ideia do que eles por lá têm), era
mesmo muito manhoso,
não é que fosse mal intencionado, era manhoso
na nossa gíria, muito cheio de tapumes e de cozinha
suja. Muito rasca.
Claro que os meus preconceitos todos
de mulher me vieram ao de cima, porque o café
só tinha homens a comer bacon e ovos e tomate
(se fosse em Portugal era sandes de queijo),
mas pensei: Estou em Londres, estou
sozinha, quero lá saber dos homens, os ingleses
até nem se metem como os nossos,
e por aí fora...
E lá entrei no café manhoso, de árvore
de plástico ao canto.
Foi só depois de entrar que vi uma mulher
sentada a ler uma coisa qualquer. E senti-me
mais forte, não sei porquê, mas senti-me mais forte.
Era uma tribo de vinte e três homens e ela sozinha e
depois eu
Lá pedi o café, que não era nada mau
para café manhoso como aquele e o homem
que
me serviu disse: There you are, love.
Apeteceu-me responder: I’m not your bloody love ou
Go to hell ou qualquer coisa assim, mas depois
pensei: Já lhes está tão entranhado
nas culturas e a intenção não era má, e também
vou-me embora daqui a pouco, tenho avião
quero lá saber
E paguei o café, que não era nada mau,
e fiquei um bocado assim a olhar à minha volta
a ver a tribo toda a comer ovos e presunto
e depois vi as horas e pensei que o táxi
estava a chegar e eu tinha que sair.
E quando me ia levantar, a mulher sorriu
Como quem diz: That’s it
e olhou assim à sua volta para o presunto
e os ovos e os homens todos a comer
e eu senti-me mais forte, não sei porquê,
mas senti-me mais forte
e pensei que afinal não interessa Londres ou nós,
que em toda a parte
as mesmas coisas são
|
|
| |
Ana
Luísa Amaral é docente de Literatura Inglesa no Departamento de Estudos
Anglo-Americanos da Faculdade de Letras do Porto. É doutorada em
Literatura Norte-Americana, com uma tese sobre Emily Dickinson. Tem
publicações académicas (em Portugal e no estrangeiro) nas áreas de
Literatura Inglesa, Literatura Norte-Americana, Literatura Portuguesa e
Literatura Comparada. Passou dois anos (entre 1991 e 1993) na Universidade
de Brown (E.U.A.) como Investigadora Convidada do Departamento de Inglês
daquela Universidade. É Investigadora Associada do Centro de Estudos
Sociais, da Universidade de Coimbra. No âmbito de um projecto desse
Centro, preparou, em colaboração com Ana Gabriela Macedo, um
dicionário português de termos feministas.
|
|
| |
|
LIVROS
PUBLICADOS
Poesia
Minha
senhora de quê, Coimbra, Fora do Texto, 1990
Reed.
Lisboa, Quetzal, 1999 ISBN 9725643968
Coisas
de partir Coimbra,
Fora do Texto, 1993
Reed. Lisboa, Gótica, 2001 ISBN 9727920195
Epopeias,
Coimbra,
Fora do Texto, 1994
E
muitos os caminhos,
Porto,
Poetas de Letras, 1995
Às
vezes o paraíso,
Lisboa,
Quetzal, 1998 (2.ª Edição, 1998) ISBN 9725643313
Imagens,
Pau, Editions Vallongues, 2000
Imagens,
Porto, Campo das Letras, 2000
ISBN 9726102774
Imagias, Lisboa,
Gótica, 2002, ISBN 9727920454
A Arte de Ser Tigre, Lisboa, Gótica, 2003 ISBN 9727920969
A Génese do Amor,
Porto, Campo das Letras, 2005 ISBN 972610937X
Poesia Reunida
(1990-2005), Quasi Edições, ISBN 9895521529
Entre Dois Rios e Outras Noites, Campo das Letras, 2008, ISBN
9789896252687
Se fosse um intervalo, Publicações Dom Quixote, 2009, ISBN
978-972-20-3847-8
Inversos - Poesia 1990 - 2010,
Publicações Dom Quixote, 2010, ISBN
9789722039826
Emily Dickinson, Cem poemas,
Tradução,
Posfácio e Organização de Ana Luísa Amaral, Editora Relógio d'Água,
2010, ISBN
9789896411732 (*)
Vozes,
Lisboa, D. Quixote, 2011, ISBN
9789722047814
Próspero morreu, Poemas em acto, Lisboa, Editorial
Caminho, 2011, ISBN
9789722124485
Escuro, Assírio & Alvim, 2014,
ISBN
9789723717655
Ara,2014. ISBN, 978-989-676-071-7
E todavia,
Assírio & Alvim, 2015, ISBN
9789723718263
The Art of being a Tiger, 2016, ISBN,
978-191-122-642-0
What's in a name,
Assírio & Alvim, 2017, ISBN
9789723718836
Arder a palavra e outros incêndios, 2017,
ISBN 978-989-641-794-9
Literatura
para crianças e jovens
Gaspar,
o Dedo Diferente e outras histórias, Porto, Campo das Letras, 1999
A
História da Aranha Leopoldina, Porto, Campo das Letras, 2000
A Tempestade, QuidNovi, 2011,
ISBN 9789896282295
Como tu, 2012, ISBN 978-989-554-934-4
Ensaio
Dicionário da Crítica
Feminista, (com Ana Gabriela Macedo), Porto, Afrontamento,
2005, ISBN 9723607581
(*) Ver recensão de
Eduardo Pitta no
PÚBLICO de 27-9-2010 |
|
|
ALGUNS LINKS:
Emily
Dickinson : uma poética de excesso -
Tese de doutoramento
Rosa Maria
Martelo - Recensão crítica de
Entre Dois Rios e Outras Noites
-
Colóquio Letras
Mulheres
Portuguesas do sec. XX
Imagens
(d)e Bastidores
Ou as «labaredas calmas» do revisionismo de Ana Luísa Amaral
Osvaldo Manuel Silvestre (crítica
de "Imagens")
Concertos/ Desconsertos:
Arte poética e busca do sujeito na poesia de Ana Luísa Amaral
Isabel Pires de Lima - Portugal,
Universidade do Porto
Ana Luísa Amaral: uma estratégia do avesso
Paula Oliveira Cruz
A
aranha estranha e outras figurações da diferença
nas histórias de Ana Luísa Amaral
Rosa Maria Martelo (crítica
dos livros publicados em prosa)
Rosa Maria Martelo, “Ana
Luísa Amaral – Entre dois rios e outras noites”,
Colóquio/Letras, Fundação Calouste Gulbenkian, in Recensões
Críticas, 18 Maio,
http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/news?i=3
Joaquim Francisco Coelho, “Poesia no
paraíso [crítica a ‘Às
vezes o paraíso’, de Ana Luísa Amaral]”
in Colóquio/Letras – Livros sobre a Mesa,
n.º 155/156, Jan. 2000, p. 399.
Poema
"A CHRISTMAS CAROL"
Pré-publicação
de cinco poemas
Tradução
de poemas de Emily Dickinson


9
de Maio de 2015
E – A
Revista do Expresso n.º 2219
E
TODAVIA
Ana Luísa Amaral
Assírio & Alvim, 2015, 127 págs.
Poesia
Vinte e cinco anos após o inicial “Minha Senhora de Quê”,
é interessante verificar como o novo livro de Ana Luísa Amaral funciona como
síntese, talvez involuntária, da sua obra, ao revisitar temas centrais da poesia
desta autora: a tensão entre escrita e observação do mundo (sejam os esplendores
da natureza ou as evidências do recato doméstico); a memória afectiva, ligada
umbilicalmente a lugares e pessoas; a atenção minuciosa a uma espécie de música
das esferas, que sustenta os equilíbrios precários da vida comum; o fascínio
perante as possibilidades ou limites da linguagem poética. Estamos diante de um
livro de balancos e equações, de perspectivas e somas imperfeitas. “Nunca viveu
a sintaxe/ de coisa outra/ que não fosse um caos/ ameaçado”, lemos logo na
primeira estrofe do primeiro poema. E é nesta espécie de incerteza que ficamos a
pairar. Uma incerteza que se manifesta na própria estrutura dos poemas. Muitos
deles ficam suspensos, vacilam, debruçam-se sobre o que vem depois, criam uma
rede, e um sistema de vasos comunicantes, ecoam uns nos outros, nascem uns dos
outros. Os registos variam muito, do verso livre ao soneto, da fábula a cantiga
de amigo (“Ay mar, ay mar tão escuro e fundo,/ se sabeis novas do meu amigo! ai
mar, e u é?). Sem ser confessional, esta é uma poesia da intimidade. Por
exemplo, quando espreita a filha “igual a girassol” (tantas vezes cantada
noutros livros), desenhando-lhe um perfil esquivo “de amor/ e pura filigrana”.
Ou quando deixa vir, solenes, ‘os meus mortos”, essas feridas reabertas (“E
quanto mais a luz é sobre a ferida, mais eles aí estão”). Os poemas abrem-se
igualmente ao canto dos pássaros, ao seu voo (“perplexo e belo), ao entusiasmado
louvor do que é simples e quotidiano (a luz do sol, um sofá, uma “porta em
vidro./ iluminada, em mais pura esquadria”. as “coisas todas que brilham na
varanda”), a indefinição do que é “ser português”, aos desertos da noite e da
solidão, aos cheiros (o refogado para o arroz de tomate ou para a dupla dose de
ervilhas com ovos), as texturas (o veludo de um sapato, a sola de um pé
descalço), aos sons (a gota de água da torneira mal fechada, como “prego mental/
dilacerando”). Mais do que afirmar, esta escrita sugere, toca ao de leve na orla
do dizível (“e tudo faz sentido,/ mesmo sem eu saber/ como falar”).
É
um ofício que exige “cuidadosos descuidos”, um baixar da guarda vigiado, um
domínio daquilo que se aceita perder: “Cuidar na escolha: afiado lápis/ que o
bico rombo rasga-me as palavras/ mas tão macio que eu as possa romper/ quando
preciso”. /J.M.S.


Expresso – n.º 2168 - Atual
17
de Maio de 2014
Escuro
Ana Luísa Amaral
Assírio & Alvim, 67 pags.
José Mario Silva
Logo no
primeiro poema deste livro, o sujeito poético evoca, em tom elegíaco, “a mais
pura alegria” de uma memória de infância: o “sol como um incêndio largo” no céu,
quando “a morte era tão longe”. Acontece que essa “alegria recordada” não
encontra lugar num agora feito de notícias “brutais” sobre “a violência de ser /
em cima desta terra sobre outros mortos/ mal lembrados ou nem sequer lembrados”.
São tempos diferentes que “coabitam” e mesmo corredor dá-lhes espaço e lume”.
Esta sobreposição leva a equívocos. Por vezes, o que sobra de um tempo é só a
forma como foi reinventado pelos que vieram depois; ou seja, não a realidade mas
o mito. Através de uma escrita de “vozes”, já ensaiada noutros livros, Ana Luísa
Amaral avança então por este território incerto, procurando fixar, na
ambiguidade do “claro-escuro”, retratos de figuras e momentos da nossa História,
à mercê de uma “elipse de Luz”. Vemos assim de novo perfilarem-se os homens que
desafiaram os mares nunca antes navegados, gesta sonhada por D. Dinis ainda
antes das caravelas; D. Isabel “recortada em milagre”; o Infante D. Henrique
preso à sua falsa imagem diante do oceano, no promontório de Sagres; o olhar de
D. Pedro, enrouquecido pela loucura”; o nevoeiro sebastianista; o Adamastor. Os
poemas, de feitura impecável, dialogam com a “Mensagem” pessoana, mas apenas
para procurar o avesso do “nada que é tudo”. E em nenhum momento esse gesto é
tao explícito como nos versos em que Ana Luísa Amaral assume a voz de Mariana
Alcoforado: “Deixai-me o escuro, o meu. Porque ao lado da minha, a vossa
ausência, essa que em mim plantastes, nada é.”
Palavras macias
Um livro representativo de
algumas vias da poesia portuguesa actual
Às
vezes o Paraíso
ANA
LUÍSA AMARAL
Quetzal, 1998, 112 págs.
UMA ideia de excelência cobre, com o seu
manto generoso, a poesia portuguesa das últimas décadas. Sabemos como uma
generalização deste tipo, por muito boas razões que estejam na sua origem (e
estão certamente), oferece-se tão facilmente à repetição quanto se subtrai
a qualquer pensamento.
Sem nos
querermos precipitar no exercício das sínteses epocais, é talvez altura de
perceber que uma tal ideia já não tem hoje condições para ecoar da mesma
maneira; e que o ritmo de renovação da nossa poesia é hoje muito mais lento
do que foi até ao início da década anterior. Evitando embora um olhar
definitivamente negativo sobre o presente, julgo no entanto que assistimos hoje
ao triunfo de uma poesia complacente e plácida, fascinada pela sua própria «competência»,
capaz de atravessar incólume o nosso tempo para ir alimentar, com as suas astúcias,
uma generalizada esteticização do real ( como manifestação, por excelência,
do Kitsch).
De tudo isto,
é este livro de Ana Luísa Amaral um lugar de confluência perfeito, até no
modo como vem configurar um percurso cujos tropismos coincidem com os do
contexto. Na verdade, este livro é um ponto de chegada no sentido do poema sem
falhas nem rugosidades, feito de «palavras macias» (pág. 16 e 23) e de
versos que transpiram ternura («Que ternura transpira este meu verso,/
coberto de suor.», pág 10). Acrescente-se, porém, para evitar equívocos:
nenhuma palavra pode ser desqualificada por fazer apelo a um sentido táctil que
tem, aliás, quase sempre uma conotação positiva, da mesma maneira que
qualquer verso está no seu direito de exprimir a ternura ( uma palavra que não
só ocorre muitas vezes como integra um campo semântico mais vasto). O problema
não é esse: é o da frouxidão dos poemas, o facto de a «ternura» não
conseguir ser mais do que um invólucro exterior, cristalizado numa «maneira»
(um maneirismo) facilmente reconhecível que exibe o «poético» em estado de
proliferação. Um bom exemplo é este poema que aparece reproduzido na
contracapa: «Não, não deve ser nada este pulsar/ de dentro: só um lento
desejo/ de dançar. E nem deve ter grande/ significado este vapor dourado,// e
invisível a olhares alheios :/ só um pólen a meio, como de abelha/ à espera
de voar. E não é com certeza/ relevante este brilhante aqui:// poeira de
diamante que encontrei/ pelo verso e por acaso, poema/ muito breve e muito
raso,/ que (aproveitando) trago para ti.» (Pág. 25).
Este poema
traduz de maneira exemplar a situação da poesia de Ana Luísa Amaral, naquilo
que ela tem de generalizável a um contexto de que falei no início: trata-se de
uma poesia culta, a que não falta elaboração e consciência de si própria.
E, no entanto, ela sucumbe a uma nova inocência: a do esteticismo, a da experiência
«poética» que não se traduz numa experiência imanente à poesia. E que, por
isso, é anestesiada por um segundo grau.
Trata-se, em
suma, de uma poesia fascinada por si própria, atraindo tudo para a própria
instância abstracta do poema: «De mansinho ela entrou, a minha filha.// A
madrugada entrava como ela, mas não/ tão de mansinho. Os pés descalços,/ de
ruído menor que o do meu lápis/ e um riso bem maior que o dos meus versos.//
Sentou-se no meu colo, de mansinho.// O poema invadia como ela, mas não/ tão
mansamente, não com esta exigência/ tão mansinha. Como um ladrão furtivo,/ a
minha filha roubou-me inspiração,/ versos quase chegados, quase meus.» (Pág
40).
Um poema de
abertura coloca, aliás, todo o livro sob o signo de um fetichismo da
materialidade do poema: «Um romance de amor por esta noite/ em lua nevoente
- e uma máquina velha/ de escrever. Ingééénua e tão portátil,/ de imensa
melodia desigual.// Ah, o prazer do verso em movimento/ lento, o til beijando em
fogo a mancha/ do papel, que se arrepia ao longo/ de mil gralhas. O sentimento mútuo//
e vagaroso: o 'um' feito com éle,/ o 'zero' a servir de ó, a letra que não
sai,/ desesperada, por culpa de algum pó,/ que se intromete, negro de ciúme.»
(Pág. 9).
Repare-se, no
entanto, que a auto-referencialidade, em qualquer destes dois poemas (como, aliás,
em muitos outros onde ela ocorre, ao longo de todo o livro), não é um modo de
praticar aquele imanentismo que colocava a palavra poética num lugar de
auto-interrogação , mas algo substancialmente diferente: aqui, trata-se
simplesmente de pôr o poema a mirar-se a si próprio, de mostrar que esta
poesia se alimenta das «imagens» da poesia, enquanto arsenal de figuras e
recursos temáticos - a memória, a infância, a revisitação nostálgica - que
trazem consigo uma dicção já pronta . Que é como quem diz: uma topologia já
constituída, apta a ser habitada tranquilamente e que não é verdadeiramente
um espaço de luta para o nascimento de um verso. É, antes, a inócua evocação
de muitos versos anteriores ou o refúgio para uma poesia que brilha de complacência:
«Só, na noite. O vazio do intrincado espaço/ da memória, teia quase
perfeita de finos/ nervos. Como num bastidor, quebrou-lhe agulha,/ rompeu-se o
fio de seda, ou lã macia./ Ou foi só o crepúsculo que, dissonante, entrou?//
Só, na noite, no vazio intrincado do pensar./ Mas, se brilho na teia? Se
segundo qualquer crepuscular/ à cabeceira, onde medicamentos/ e pequenas
flores? Que olhar nos é negado?/ Alguém em limiar ou tempo ausente?» (Pág.
79).
A terminar,
reitere-se uma observação necessária, sem a qual estaria a ser injusto: se o
livro de Ana Luísa Amaral, Às Vezes o Paraíso, suscitou um comentário
que tem muito o tom de uma argumentação «contra», é porque ele me levou a
rejeitar também uma certa «ideia» de poesia e a extrapolar para um contexto
que precisa de ser pensado.
ANTÓNIO GUERREIRO
EXPRESSO – Cartaz, 13/06/1998
|
Interrogar
a esfinge
DEZ
ANOS depois da sua estreia com Minha Senhora de Quê (1990), Ana Luísa
Amaral lança o seu sexto livro - Imagens - a culminar um percurso
de escrita. A maioridade de uma voz, o peso de um nome na nossa tradição
literária foram-se afirmando com Coisas de Partir (1993), Epopeias
(1994), E Muitos os Caminhos (1995), passando por Às Vezes o
Paraíso (1998).
Em
Imagens, os poemas breves e densos organizam-se como um todo, que
se revela hesitante a partir do jogo com os respectivos títulos: ecoam-se
estes numa pseudo-enumeração - «Primeira Imagem» (pág. 11) e «Primeiro
Esboço de Imagem» (pág. 23), por exemplo - que subverte a ordem própria
ao surgimento das representações, enviando-as pelo caminho inverso: em
direcção ao vago, obrigando a forma a passar a um estado ou fase
anterior da sua manifestação natural. Depois, aproximam-se do fim com um
«Quase Epílogo», a três poemas de distância de um «Epílogo em
Imagem», tendo começado com um «Prólogo de Imagem»: «Os leões
insistiam-se,/ solenes, o seu rugido agudo sobre a esfinge/ (que deveria
ser rugido rouco)./ 'Não quero', ela dissera./ Um só leão não chega e
uma esfinge/ é tão pouco// 'Fazer algum juízo/ particular, exacto,
destas coisas/ seria amedrontá-las/ até ao espaço oblongo/ da memória.//
É esta a lei da história:/ os seus heróis:/ uma idêntica esfinge'» (pág.
9). |
|
|
Prólogo
e epílogo funcionam como peças literárias suplementares, em particular quando
se trata de um drama em verso. No caso dos gregos antigos, o «prologos» tomava
o lugar de um primeiro acto explanatório em que uma personagem - por uso uma
divindade - aparecia no palco vazio para explicitar os acontecimentos - a catástrofe
- antes da actuação. No poema acima, a ppppersonagem em causa poderá bem ser (até
pela reincidência) a Esfinge: entidade mitológica ela própria com corpo de leão
e cabeça de homem. Sábia por excelência, não dá respostas, limitando-se a
fazer perguntas.
Ligados
entre si por uma grande unidade musical a dar o efeito das «labaredas calmas»
da epígrafe, por vocábulos recorrentes de que a autora se apropriou, os poemas
unem-se ainda por uma partição estrutural idêntica: os primeiros versos
pertencem a um narrador anónimo, impessoal, que refere situações e
acontecimentos de histórias provavelmente antigas, que sugere episódios
associados aos nomes das lendas e mitologia gregas - Teseu ou Ulisses, Ariadne e
Penélope - ou da tradição judaico-cristã (Jonas); a eles se contrapõem os
últimos três/quatro versos de cada um, correspondendo a uma «resposta», um
«comentário», uma «informação» dada por uma entidade feminina: «ela».
Esta duplicidade transforma cada poema num pequeno diálogo, o qual,
adicionando-se aos subsequentes, transformará os fragmentos num todo, num texto
mais longo, garantindo-lhe ainda a dimensão dramática. À semelhança do
sujeito da primeira parte, também a esta personagem feminina dos momentos
finais, que chega por vezes a usurpar o espaço do narrador, ou da própria
esfinge, raramente se poderá atribuir um nome: «Imagens/ que voltavam
devagar,/ se encostavam a ela sem pudor./ E no silêncio, a esfinge impenetrável,/
sabendo-lhe de cor o coração:/ desistente dos barcos,/ depondo pelo chão de
outros palácios/ as armas mais preciosas./ 'Não posso', acrescentara,/
sentindo aproximar-se a hora/ exacta» («A Hora Mais Exacta», pág. 47).
A
qualidade prismática das representações, o difractar da re-presentificação,
o sugerir de semelhanças entre passado e presente pela riqueza de sentidos
criada por velhos vocábulos («palácio» e «armas preciosas», e ainda «bastidor»
e «monstros e lendas», entre outros) estão à partida sancionados e
congregam-se em torno do título do livro - Imagens -, um plural: uma
palavra única a re-unir em si a multiplicidade.
Mas
antes disso (ou depois), o(s) epílogo(s) - tendo por objectivo divertir o público
e enviá-lo bem-disposto para casa - acaba(m) por cumprir aqui uma função
diversa: por um lado, esclarecem a situação de dupla fala; por outro,
desmascaram a preponderância do presente, arrastando para o aqui e agora do
poema todo o passado, permitindo que o «eu» - ou o leitor - se aproprie de
todas as experiências atribuídas a nomes outros, que torne suas todas as
imagens.
(Campo das Letras, 2000, 58 págs.)
HELENA
BARBAS
EXPRESSO
- Cartaz,
12/01/2001

Entrevista à poetisa Ana Luísa Amaral: ordenar nos livros o que está desordenado
DN 20 de Maio de 2005
Sendo no verso
feminina gente
Há uma dialéctica entre o "perder" (o
amor) e o "permanecer" (em verso) que interroga de modo muito pertinente a
poesia amorosa
PEDRO MEXIA
Ana Luísa Amaral
cultiva o excesso maneirista e o palimpsesto irónico. Creio que as suas ágeis
desconstruções dos campos doméstico e literário são mais recomendáveis que o seu
veemente barroquismo. De todo o modo, 15 anos após a estreia, Amaral tem sem
dúvida uma poética amadurecida, que muito deve ao conhecimento da poesia
anglófona e a uma arguta inteligência teórica.
A Génese do Amor é um livro menor de Ana Luísa Amaral, mais próximo de
pequenos exercícios monotemáticos como o bizarro Imagias (2002), e menos
de colectâneas substanciais como Às Vezes o Paraíso (1998). No entanto,
uma sequência deste último, chamada "A Leste do Paraíso", prenuncia este novo
poemário. O que está em causa é, como diz o título, a génese do amor, mas do
amor na literatura (de onde todos retiramos muitas noções acerca do amor). Nesse
sentido, Ana Luísa Amaral remete directamente para os mestres amorosos do cânone
ocidental Dante, Petrarca e Camões. O livro tem alguns poemas iniciais, que
diríamos de enquadramento, que parecem pastiches desinteressantes. Nesses
textos, Ana Luísa Amaral apenas retoma tropos da poesia amorosa, como os olhos
ou a noção de espelho, mas sem grande proveito. Mais importante é a noção de que
é no verso, ou melhor, na palavra, que o amor literário se consubstancia. Embora
A Génese do Amor não seja poeticamente muito estimulante, tem o
indiscutível mérito de introduzir nesta temática uma perspectiva feminina e
mesmo feminista. O que interessa a Ana Luísa Amaral é dar voz às musas, isto é,
a quem foi cantado mas não cantou. E faz isso para, de certo modo, contestar a
sua duvidosa posteridade. Assim, Beatriz diz a Dante "Mas, viva, / no teu desejo
/ não anseio por morrer: / morrendo no teu desejo / desejo, em carne, / viver //
E se o viver se confunde, / assegurando a esperança, / toda a mudança pressente
/ o que a verdade não muda, / nem a carne representa, / nem abriga o maior
tempo, / nem desabriga / a mudança // E, meu amado, o desejo: / o caminho mais
suave / para o céu em que te sonho: / diz-me onde devo deter-me, / diz-me onde
devo perder-me, / pois que perder- -te: / o inferno // Que a morte / não surja,
doce, / nem chegue nunca / a chegar // Nestes versos / te mantenho, / neles / te
faço viver // E para sempre serás, / mesmo se em carne / morreres // E, vivo, /
no meu desejo, / desobrigarás a morte, / desobrigarás o tempo, / assegurando a
esperança / do mais eterno presente: // o do céu / em que nos sonho // Por minha
crença e vontade, / por meu amor e meus modos, / pelo abismo de amar-te" (págs.
29-30).
As musas vivem nos versos. Mas viver nos versos é de certo modo anular a sua
existência concreta, transformar a coisa amada no amador "Mas como pode amor /
ter nova arte, / se me roubaste o verso / e a palavra" (pág. 50). Mais: é
transformar o amor, transitório por natureza, em suposta "eternidade" vocabular.
Assim se perde o amor, a amada, a própria circunstância, vítimas do alto
engenho: "Nunca eu por inteiro, / embora a meio, / assim me és: // tu, corpo, de
verdade, / eu na verdade: // nada // Musa, se o for sequer, / ou coisa amada /
que se deseja em verso, / mas não morre // Desejo a morte / que tu podes ter, /
porque podes ser carne / e sangue, e pele / / Eu sou só essa / que sonhou aquele
/ que entre sonhos / e versos / me sonhou (...) " ("Natércia fala a Catarina",
pág. 43). Há uma dialéctica entre o "perder" (o amor) e o "permanecer" (em
verso) que interroga de modo muito pertinente a poesia amorosa. Ao ponto de,
como vimos, pôr as mulheres (musas) em conversa umas com as outras. Cito do
poema "Diálogo entre Natércia e Laura": "-De ti herdei / a feroz tradição / de
ser cantada, // de não ser voz, / mas antes coisa amada / não amadora / a
transformar-se em coisa // -Nunca te dei a mão: / a ele, sim, / cantou-a ele, em
rima / mais cuidada / Tu nunca me tocaste: / ele ansiou-te, / na rima que falou
/ e outros ouviram / -E fomos sonho / dos que nos sonharam / e disseram de nós o
que aprouvera / aos mais suaves rios / e às colinas // -E porque não existes, /
minha amiga, / tal como eu sou a dúvida do sonho, / a matéria insensata / da
palavra, / a coisa já cantada, // a unir-nos somente: / o destino comum / de
sermos nada, // -Sendo, no verso, / feminina gente" (págs. 45-46). É por isso
que as equívocas musas reclamam o que é seu: " (...) Dá-me outra vez, / em papel
brando, / o mundo: // Eu: queimando por versos / um segundo, / tu, por um som, /
ardendo eternidade" (pág. 58).
Inês Lourenço, em contrapartida, usa sempre o tom menor. É uma poesia rasa e
discreta, que podemos aproximar da de Helga Moreira (embora menos elíptica). O
risco que a poeta corre é cair no prosaísmo, acusação recorrente face a
discursos poéticos mais comunicativos. Logros Consentidos não inova, nem
isso era esperado temos mais uma vez um retrato do tempo comum, mergulhado na
solidão, e atento aos novos tempos (emigrantes, strippers, condomínios, a
boneca Barbie). E também o "precário poder do amor", luz negra ou fosca que
preside a este poemário. Logro consentido, o amor é cada vez mais um catálogo de
verbos úteis. E a poesia outro triste mas necessário logro "Contigo, leitor,
celebro / esta união sem facto, abro / este habitáculo, algumas gavetas /
secretas para demorar contigo emoções / e escárnios. És, talvez, como eu / uma
alternadeira de palavras, destas / que vendem no papel, os objectos / trucidados
pelo olhar em lençóis / de falsa transparência e ficção / furtiva. Outras, mais
reais / e mais humanas, professam / uma devastada arte de amar / e nós um
devastado amor / à arte dos versos que ninguém / lê. Só nós lemos / uns aos
outros, tal como elas / se vigiam sobre o trottoir" (pág. 12). Há nestes
poemas um discreto diálogo com autoras mais radicais como Adília Lopes e Clarice
Lispector, mas só por remissão esta poesia é radical, preferindo a enumeração, a
alusão, a ironia quase sempre muito fina. Assim, depois de um elenco cáustico
sobre o uso moderno do domingo, Inês Lourenço remata "Ao menos hoje acontece /
algo de bom em nome de Deus" (pág. 15).


EXPRESSO – Actual n.º 1738, de 18 de Fevereiro de 2006
A gramática da poesia
A escrita de Ana Luísa
Amaral pode ser desconcertante na sua atitude analítica
ANTONIO GUERREIRO
Poesia
Reunida (1990-2005)
de Ana Luisa Amaral
Quasi, 2005, 475
págs., €19,95
Seja-me permitido começar por algumas «impressões», bastante informais: na
leitura das quase quinhentas páginas de poesia que correspondem aos dez livros
que Ana Luísa Amaral publicou de 1990 a 2005 senti que fora submetido à
decepção, ao desencanto, ao desconcerto e a outras figuras da negatividade;
achei, por vezes, que me estava a ser ministrada uma certa dose de displicência;
e que estava a atravessar uma poesia do menor, em tom menor, mas que não pode
ser confundida com uma poesia menor. Trata-se, em suma, de uma poesia com um
alto grau de inteligência de si mesma e dos efeitos que provoca, de tal modo que
parece antecipar-se às reacções do leitor e indicar-lhe uma perspectiva, um
movimento metódico que abre caminhos e submete o poema (e os seus utensílios) a
uma cerrada autovigilância ou, até, à irrisão e ao esvaziamento, como no poema
que termina com esta estrofe: «Faço eroticamente respiração contigo:/ primeiro
um advérbio, depois um adjectivo, / depois um verso todo em emoções e juras./ E
termino contigo em cima do poema, / presente indicativo, artigos às escuras» (pag.
109).
Começam, aliás, aqui os processos deceptivos: no movimento que desinflaciona,
que anula a ênfase, que põe à distância e faz triunfar o segundo grau. Muitas
vezes, o jogo não se limita ao interior de um texto, põe em conexão diferentes
textos. Assim começa um poema do primeiro livro: «A minha filha partiu uma
tigela/ na cozinha. / E eu que me apetecia escrever / sobre o evento, / tive que
pôr de lado a inspiração e lápis, / pegar numa vassoura e varrer / a cozinha»
(pág. 30). O poema chama-se ironicamente «A Verdade Histórica”. Mais de uma
década depois, ele é retomado noutro livro para afirmar «Outras Verdades»: «A
minha filha já não parte / tigelas na cozinha./ Nem usa borboletas no cabelo,/
nem veste certas roupas de brincar./ E onde vou arranjar agora o verso / sem
tigelas partidas devagar?» (págs. 347/8). Esta poesia do menor aplica-se a usar
estes momentos vazios da vida quotidiana sub specie aeternitatis. E nas
representações da existência quotidiana encontra-se um jogo subtil entre o
informal, a espontaneidade pré-reflexiva do que se move sem plano nem objectivo,
e o amorfo, o que se situa no plano da estabilização rotineira, dos gestos
habituais.
Deceptiva e desconcertante, esta poesia é-o na exacta medida da inteligência que
tem de si e da história de poesia, de tal modo que, para dizer o amor, tem de o
fazer por mediação de Camões e Petrarca. Nenhum primeiro grau é consentido, não
há adesão sem máscara. Eis porque aquela que parece ser a mais íntima das
poesias acaba por subtrair-se à confessionalidade. E aí temos outro factor de
decepção.
Podemos admirar estas diferentes maneiras de criar uma perspectiva (no sentido
literal da palavra, uma «vista através de»), deleitamo-nos com os seus jogos e
desvios. Mas também podemos, ao mesmo tempo, achar que há aí uma certa
esterilidade, que o tão apurado mecanismo labora no vazio, E quando digo «ao
mesmo tempo» quero dizer que me sinto, enquanto leitor, sincronicamente dividido
entre estes dois movimentos. Afinal, não é por acaso que a metáfora do «tricot”
e do bordado é das mais recorrentes, nesta poesia, para representar o trabalho
poético: um exercício de paciência.
Uma
noção de experiência, tal como ela foi posta em relação com a poesia por Dilthey,
no princípio do século XX, num célebre ensaio intitulado precisamente
Experiência e Poesia (Das Erlebnis und die Dichtung), poderia ser convocada com
pertinência para a leitura da poesia de Ana Luísa Amaral. Mas na condição de
formularmos também esta questão suplementar que a sua poesia suscita: existe uma
possibilidade, para a experiência vivida (a “Erlebnis” é geralmente traduzida
por «experiência vivida«), de se separar, de se libertar de nós próprios? Ou,
formulado de outra maneira: existe, para a escrita, um momento em que se pode
instaurar uma separação, um desvio, entre aquele que escreve e si mesmo,
enquanto objecto necessário da escrita?
Falar de quotidiano, de tom menor, das micrologias de diversas espécies (o
«realismo» que nasce da atenção ao detalhe e ao contingente), aproxima-nos de um
filão importante da poesia portuguesa recente. Mas a poesia de Ana Luísa Amaral
situa-se num outro campo: em vez de um «realismo» que desconfia das imagens, a
sua é uma poesia altamente imagética, para a qual, de resto, o mundo não é senão
imagens; em vez de uma poesia descritiva, a sua é uma poesia analítica, sempre a
decompor-se nos seus elementos, até ao ponto de se designar na sua materialidade
verbal, como neste poema: «Ah, o prazer do verso em movimento / lento, o til
beijando em fogo a mancha / do papel, que se arrepia ao longo / de mil gralhas.
O sentimento mútuo // e vagaroso: o ‘um’ feito com éle, / o ‘zero’ a servir de
ó, a letra que não sai (...)” (pág. 251). Esta atitude analítica traz a poesia
para o espaço da imanência, rente à experiência da vida quotidiana e rente à
própria experiência da escrita. Assim, em vez das tradicionais poéticas, temos
aqui a preferência declarada pelas gramáticas da poesia.

PÚBLICO, Mil Folhas
27 de Maio de 2006-05-29
A memória, doce catástrofe
Pedro Sena-Lino
Poesia Reunida (1990-2005)
AUTOR Ana Luisa Amaral
EDITOR Quasi
473 págs., 19,95 €
Quando o tempo e a distância recompuserem os nexos
cronológicos e temáticos que constituem o que é a geração de 1980 (a meu
ver, os nascidos entre 1951 e 1960, ainda marcados pela centralidade do discurso
literário na linguagem, e tendo nesse centro a poesia, a poesia personalíssima e
dialogante de Ana Luisa Amaral (n. 1956) ocupará lugar de destaque nesse
período. De facto, integrada na geração onde se incluem Adília Lopes (n. 1960),
Isabel de Sá (n. 1951), Amadeu Baptista (n. 1953) ou Jorge de Sousa Braga (n.
1957) sem esquecer um muito esquecido Alexandre Vargas (n. 1953)
distingue-se pelo tom serenamente trágico no diálogo com a memória.
Acontecimentos, revisitações, recordações regressadas em tom de aparição
concretizam-se numa espécie de anagnórise (reconhecimento) trágico mas
assumidamente sereno, num encontro com uma parte de si mesma, simultaneamente
revelação e compreensão:
O poema, lugar de encontro da dispersão da memória: esta
integração de uma biografia da memória, nunca em confessional exibicionismo,
mas sempre num discurso-percurso questionador (“Minha Senhora de Quê?”) percorre
os territórios dos espaços tempo perdidos: “Nada a quebrar o sol neste momento./
Nem chuva desviada de mil estrelas,/ nem vento de monção / Só tu que não!(...)A
música quebrada / Nada a quebrar o sol neste momento/
(...) Chega para
mil caos.
Chega para / miríades de vidro pelo chão / sem tecto, e em
cada uma: / o teu anti-reflexo?. Incorporando uma dimensão de experiência formal
e semântica (“espionagens verbais”), a poesia de Ana Luisa Amaral por vezes se
espraia discursivamente (fazendo lembrar Álvaro de Campos ou Jorge de Sena),
sobretudo quando percorre o quotidiano com uma ironia inteligente (os franceses
diriam “pincez-sans-rire”), ou as escadas perdidas dos territórios do amor:
“Hoje, a saudade de ti: punhalada / de tinta muito branca, / o cheiro do que é
novo, o cheiro da / doença a alastrar”.
Poesia que dialoga com gerações anteriores da poesia
portuguesa (Jorge de Sena, Sophia de Mello Breyner, mas que se ancora na poesia
anglo-saxónica pela sua contenção. E que, também, revisita lugares paralelos da
lírica feminina portuguesa.
“Revisitar os sítios do pressentimento”: o espanto
consigo, mordazmente terno, que traz a leitura da poesia de Ana Luísa Amaral.


Actual n.º 1847,
de 21-3-2008
A IMAGEM
E A VOZ
A poesia
de Ana Luísa Amaral nasce de uma matéria que é a do sentimento e a da memória
Entre Dois Rios e
Outras Noites
Ana Luísa Amaral
Campo das Letras,
2008, 128 pgs. € 10,50
Um motivo percorre
este livro e determina o seu horizonte: o da escrita que regista a
circunstância, que fixa a contingência como nota ou apontamento. Uma das secções
chama-se mesmo “Apontamentos Desiguais”. A poesia que tem origem neste processo
não aspira a projectar-se noutro tempo, foge de toda a essencialização e
permanece numa linha rasa e plana, sem uma elevação que a venha interromper.
Compreende-se assim o elogio da “música menor” que encontramos neste poema:
Até aquela letra
me seduz:
a música menor
que lhe sustenta
os pontos
quebrados pela
tinta,
pela luz:
pousares certos da
mão,
pensares incertos,
e carregadas
pausas (pág. 24)
Há aqui uma
atitude analítica que decompõe os gestos e as coisas e que nunca dá o salto para
a síntese e para a totalidade. Daí que o “escrever” que muitos destes poemas
tematizam não seja mais do que um anotar
aparentemente despretensioso, em que pode estar
mesmo em causa o instrumento técnico que realiza esse exercício:
Seguro esta caneta, escrevendo
por varanda de hospital. É bonita
a caneta, eu é que tenho estado
um
pouco mal.
Derramei-o por
sangue e tinta preta,
reencontrei
o sol, as borboletas roçaram-me
o seu pólen de veneno, salvou-me
um balão de horas e formol (pág. 49).
É preciso reparar, além disso,
que a digressão a que este registo convida acaba por se resolver num persistente
regresso à intimidade, a uma
relação entre pensamento e afectividade e,
até, a uma subjectividade romântica. O sonho,. a memória .e os dispositivos da
evocação são uma máquina de produção poética , de emergência de um discurso
imagético à medida da “rêverie” que está na base desta poesia. .Uma “rêverie»
controlada, sem exasperações surrealistas, que remete para
uma
serena dramaturgia da vida interior.
Tudo isto sem ênfase, sem elemento trágico, num tom que joga com a intimidade,
mas preservando a distância, isto é, sabotando-a.
Em termos que chegam a ter um efeito quase irónico:
No livro de registos desta noite,
ficou assinalada uma visita
de três desavisadas toutinegras,
sapatos de pelica,
e um morfeu a quem elas inspiraram
a comprar capa preta,
e que eu, quase a dormir, vi
transformado
em órfico poeta (pág. 23)
“Órfico poeta” é aquilo que Ana Luísa
Amaral não é. Podemos mesmo dizer que, relativamente à sua poesia, trata-se de
um modelo negativo. Na verdade, estamos nos antípodas de uma poesia órfica, Pelo
contrário, estamos próximos de uma poesia que segue o percurso da experiência
vivida, da sua contingência, das suas digressões, da sua matéria heteróclita.
O privilégio concedido ao sentimento e à memória assim como o triunfo da
intimidade e das pequenas coisas podem ser bem escutados num poema que se chama
“Unificações”:
Uma pomba passeia em Friedrichstasse,
numa Alemanha tocada
em unificação – e o que desejo unidos
são retratos
de coisas passageiras.
O poema começa com uma referência
histórica, mas imediatamente regressa a um nível do quotidiano e das evocações
pessoais. Não podemos dizer que não haja aqui muita perícia e, sob um certo
ponto de vista, um notável conseguimento. Mas há também, em igual medida, um
discurso que se esgota num efeito fútil.
António Guerreiro
EXPRESSO, Actual n.º 1935, 5 de Dezembro de 2009
Ana Luísa Amaral
Se Fosse um
Intervalo
Dom Quixote, 2009, 102 págs.
A sintaxe é aqui a grande questão.
António Guerreiro
A poesia de Ana Luísa Amaral sofreu, neste livro, uma acentuada inflexão:
tornou-se mais áspera, mais elíptica, e mais críptica. A sua matéria e os seus
modos de representação já não se exercem, como antes, rente à experiência da
vida quotidiana. Ela conduz-nos agora para um plano que nalguns momentos,
podemos mesmo identificar com o surreal (há, aliás, uma secção de cinco poemas
intitulada "Algumas Notas Surreais (Ou Não)". E, daí, a incidência no imagético
portador de estranheza e que abre para um outro tempo que não é o do aqui e
agora da contingência. Começa assim, um poema intitulado "Irei Agora carregar o
Tempo":
Irei agora carregar o tempo
de mil relâmpagos,
tempestades de agosto
e algum rio.
E nele falarei sem sequer trovas
Habitarei as coisas de tal forma
como a lareira esguia do meu lado,
o tempo carregado de chamas e de mim".
Esta poesia conta histórias, tem uma forte dimensão narrativa, mas ao mesmo
tempo aplica-se a sabotar a linearidade e a narratividade, E fá-lo, sobretudo,
através de interrupções e quebras sintácticas, de tal modo que o trabalho
poético consiste, em grande medida, numa espécie de desestruturação sintáctica e
numa ordenação que não deixam que se formem frases. Um exemplo.
Aqui, do lado esquerdo, avesso a tal,
que ele seja de mim,
tanto glória e futuro,
como um imenso muro de interpretação.
Ou então, docemente,
em constatação leve e inocente:
o lado esquerdo muito bem timbrado (...).
Ora, estes processos são criadores de dissonância. Isso, que resulta numa poesia
sintacticamente agreste, até poderia ser um factor interessante se não se
tornasse um modo exasperado, uma produção vazia que, noutro plano, tem a sua
correspondência em imagens como "luz diagonante" (pág. 9) e em versos que não
conseguimos ler sem um tremor e sem a sensação de uma queda: "
Ser-se-iam decerto
mais atentas,
mais reparantes dos pequenos
brilhos" (pág. 93); "
Ou então docemente,
em constatação leve e inocente" (pág 26).; "
Restam batatas de moldura crua" (pág. 49).