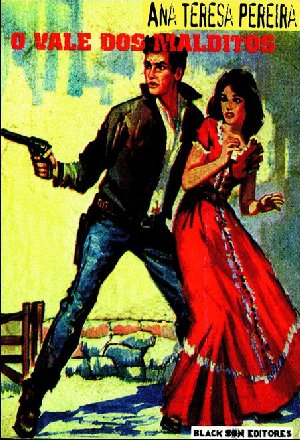24-3-2001
ANA TERESA
PEREIRA
(n. 1958)
|
|
Ana
Teresa Pereira nasceu em 1958 no Funchal, onde vive. Em 1989,
publicou o seu primeiro livro, Matar
a Imagem, com o qual ganhou o Prémio Caminho Policial.
Em 1990 na colecção Campo da Palavra publicou o romance As
Personagens.
Estreou-se na literatura infantil com A Casa da Areia e A
Casa dos Penhascos, dando assim início a uma nova colecção
para jovens.
Desde o seu primeiro livro tem vindo a publicar regularmente. A
singularidade da sua temática e a concisão da sua escrita dão a
Ana Teresa Pereira um lugar próprio na literatura portuguesa
actual.
|
|
|
|
|
UMA
BIOGRAFIA LITERÁRIA
AINDA
há autoras discretas, que não se promovem nem deixam muito que as
promovam. Não caem nas malhas das estratégias de mercado a caminho do «best-seller»,
não aparecem em «cocktails» literários nem embarcam em «capelinhas».
Ana Teresa Pereira é exemplo de tudo isto.
Imagine-se
que, lá na sua ilha da Madeira, se limita a escrever, e a enviar-nos os
livros para que individualmente os descubramos nas livrarias. Nasceu no
Funchal, em 1958, deixou o estudo da Filosofia para se dedicar à prática
das Letras, tem já uma longa e variada carreira.
Estreou-se
com um romance policial - Matar a Imagem - premiado pela Caminho em
1989. Nele encontramos irrelevantes ecos biográficos. A heroína chama-se
Rita e abandonou um curso de Filosofia para assumir a tarefa de escrever: «Havia
nela um medo feroz da escrita, de cair no poço sem fundo que era ela própria.
O medo não era muito intenso nas semanas em que escrevia o livro na mente
e as cenas e as personagens se formavam e desfaziam, e nem sabia se tinha
um livro ou não.» (pág.11). Rita vai casar com David, apesar
das animosidades: «Sentiu naquele instante que o detestava
profundamente. A ele e ao que representava: um caminho certo, traçado,
paralelo aos outros.» (pág.15) - uma recusa que definirá todas as
suas heroínas. Para o evoluir desta história de morte e amor, com
vampiros e anjos, vai ser fundamental uma casa antiga, o mar, e o
nevoeiro. Para todas as outras também.
|
|
Bibliografia
A
Casa dos Penhascos – Editorial Caminho -
1991
A
Casa dos Pássaros - Editorial Caminho
1991
A
Casa das Sombras - Editorial Caminho
1991
Matar
a Imagem - Editorial Caminho
1989
As
personagens – Editorial Caminho - 1990
A
Casa da Areia - Editorial Caminho
1991
A
Última História - Editorial Caminho
1991
Num
Lugar Solitário - Editorial Caminho
1996
Fairy
Tales – Black Sun - 1996
A
Noite Mais Escura da Alma - Editorial Caminho
1997
A
Casa do Nevoeiro - Editorial Caminho
1997
A
Cidade Fantasma - Editorial Caminho
1993
A
coisa que eu sou – Relógio d'Água – 1997
As
rosas mortas – Relógio d'Água - 1998
O
rosto de Deus - Relógio d'Água
1999
Até
que a morte nos separe - Relógio d'Água 2000
Se
eu Morrer Antes de Acordar - Relógio d'Água
2000
O
Vale dos Malditos - Black Sun
2000
A Dança dos
Fantasmas -
Relógio d'Água
2001
A Linguagem dos
Pássaros - Relógio d'Água 2001
O ponto de vista dos
demónios -
Relógio d'Água
2002
Intimações da Morte -
Relógio d'Água
2002
Contos -
Relógio d'Água
2003
Se nos encontrarmos
de novo -
Relógio d'Água
2004
O sentido da neve -
Relógio d'Água
2005
O Mar de Gelo -
Relógio d'Água
2005
|
|
Na
obra de Ana Teresa Pereira repetem-se os cenários, e ainda os gestos, situações,
sentimentos. Há obsessões que se vão misturando, se tocam e trocam
refazendo-se noutras histórias, ou contando outra vez a mesma de outra maneira
- como a questão do duplo, mais evidenttte em As Personagens de 1990
(Caminho). O processo denuncia-se principalmente pelos nomes - vão surgir
Marisas, Dianas, Miguéis, vários David e Tom ou Charlie. Em A Última História
diz-nos sobre Patrícia: «Como se fosse escrever um livro e precisasse de
inspiração, de entrar num mundo oculto, desvelar a realidade por detrás da
pele das coisas. Tom ensinara-lhe que para escrever era fundamental afundar-se,
descer à cave. E não forçar nada, deixar o livro acontecer, formar-se por si.
Começar a escrever cedo de mais poderia originar um aborto. Uma massa informe e
repugnante na qual não se podia mais tocar.»(pág. 9) A metáfora da massa
a moldar associada à escrita será mais um «leitmotiv», que se expande e
inverte em textos posteriores.
Quanto
aos nomes, não respeitam géneros. Repetem-se numa colecção juvenil editada
entre 1991-92 (Caminho) que tem por base de título A Casa. São cinco: dos
Pássaros, dos Penhascos, do Nevoeiro, das Sombras, da Areia. Aventuras de
um pequeno grupo de cinco heróis - a invocar a famosa Enid Blyton: os irmãos
David e Cristina, a prima Mónica, o amigo João, e o cão Charlie. Os miúdos
desvendam mistérios por vários locais da ilha da Madeira. A mãe, Carla,
escreve livros. Em A Casa do Nevoeiro parece que se apaixona por um
pintor de anjos de nome Miguel.
Tom
é o protagonista de A Cidade Fantasma, passado em Londres (Caminho,
1993). Um escritor de policiais que vai casar com uma Patrícia. A mulher é
sempre «a mãe, a bruxa, a amante, a filha pequenina» como a psiquiatra
de Num Lugar Solitário, que lá mais para a frente se descobre chamar
Patrícia, ter uma irmã-duplo Micaela, e por paciente um pintor chamado Tom.
Uma história com capelas, a passar pelo Paul do Mar, como A Casa do Nevoeiro.
O
registo policial vai ser preterido nos livros seguintes. A Noite Escura da
Alma (Caminho, 1997) é o nome do terceiro e último conto que compõe o
volume. Juntam-se-lhe «O Anjo Esquecido» e «Sete Anos», a evoluírem para um
romance pautado pela música das Variações Goldberg. Personagens
principais - um Tom, aspirante a escritor, e Marisa, herdeiros de uma casa
antiga: «A presença da casa. A casa que os rodeava como uma concha,
observando cada um dos seus movimentos, ouvindo cada palavra.» (pág. 54).
A casa anima-se diante da paixão de Tom por Marisa. Esta tem um(a) duplo
chamado Patrícia. No conto final, uma Marisa-filha transfere a paixão pelo
pai-Tom para um namorado David.
A
envolver tudo em crescendo sub-reptício, o romantismo inglês e o universo pré-Rafaelita
naquilo que recuperam de medieval. Mas os ambientes sinistros e atmosferas
inquietantes evidenciam marcas e vestígios do gótico, às vezes transportados
para território nacional e tempos modernos, contaminados pelos filmes mais
recentes. Reveladas em epígrafe há as inspirações em Jorge Luis Borges,
Henry James, Truman Capote, Iris Murdock, Hitchcock - este último ironicamente
reinventado em «O Ponto de Vista das Gaivotas», um dos contos de Fairy
Tales (Black Son Editores, 1996), reeditado junto com Ghost Stories
em A Coisa que Eu Sou (Relógio d'Água, 1997). Uma experiência
interessante embora menos feliz, pois aqui, as redundâncias negativizam-se
podendo tornar alguns dos textos em rascunho de romances futuros. É demasiado
evidente a semelhança entre a anónima heroína de «Forget-me-not» e de As
Rosas Mortas. Para elas, e para Ana Teresa Pereira, escrever é «como
mergulhar as mãos em argila (algo de sensual e assustador), criar formas que
depois voltavam à massa amorfa, ao caos, ao início; e surgiam de novo, durante
algum tempo, revelavam-se, e desapareciam...» (pág.17).
Helena Barbas
EXPRESSO,
20-11-1998
ONDE MORA
XERAZADE?
Um livro
curioso, este que temos sobre a mesa: As Personagens, de Ana Teresa
Pereira. E também intrigante. Vejamos: o autor, o narrador, a personagem,
constituem uma tríade infernal, cada um deles deixando a cada passo de ser quem
é para ser quem não é, ou, afinal, talvez seja. Porque, inclusivamente, a
personagem que é, também, além de o ser, escreve e inventa as histórias nas
quais entra, e delas também é possível que saia para dar lugar a outro inventor
de histórias, que será igualmente narrador (e personagem!) numa história,
inventada por essoutra primeira personagem, a qual previamente saíra do enredo
para poder inventar a história...
Dito de
outra maneira: uma personagem lê um livro, no qual se conta que uma segunda
personagem está a ler um segundo livro, no qual se conta que outra personagem
está a ler outro livro, que é talvez o livro da primeira personagem que estava a
ler um livro, no qual... Um círculo irremediavelmente perfeito. Ou não? Seja
como for, é toda a fascinante ambiguidade do texto literário que está em causa,
é o mundo da imaginação e do imaginário que nos é revelado, conservando,
todavia, todo o seu mistério, toda a sua labiríntica irresolubilidade. Claro,
pensamos logo em Jorge Luis Borges e nas suas Ficções. Pois pensemos.
Também em Xerazade e as suas arabian nights, claro! São referências da
própria leitura. Como Henry James, aliás. Embora não referenciado, também por lá
paira e estende a sua sombra tutelar um Ray Bradbury de fantasmática
inquietação.
Se o leitor,
durante ou após a leitura, se predispuser ao devaneio decorrente, poderá admitir
que Xerazade, contadora e inventora de histórias que alguém por (para) ela
escreveu, resolve desvairadamente entrar nelas e transfigurar-se em personagem,
em Simbad, por exemplo, O qual, logo ali começa a contar a sua história, que é a
história de Xerazade ela-própria a contar a história de Simbad o Marinheiro.
Todos nós
somos personagens, afinal, cada um de nós não passando de mera projecção da
imaginação de alguém no pérfido deserto da esquálida realidade. Existiremos nós
porventura fora desse engenho matricial chamado Imaginação? Que o leitor, ao
entrar neste texto-labirinto, deixe de fora a esperança de quaisquer certezas.
Quem nasceu primeiro - a galinha ou o Ovo? Onde mora Xerazade?
Ana Teresa
Pereira, que subscreve a presente obra, já foi por duas vezes laureada. Pensamos
que bem mereceu.
F. B.
(Ana Teresa
Pereira. As Personagens. Lisboa. Caminho, Col. O Campo da Palavra. 1990.)
Recenseado por
Fernanda Botelho. in: Revista Colóquio/Letras. Livros sobre a Mesa,
n.º 115/116,
Maio 1990, p. 175.
Sobre Ana Teresa Pereira,
Se eu Morrer antes
de Acordar
Rui Magalhães
Os fantasmas da
origem
Rui Magalhães
Quando a ficção
vive na e da ficção
Anabela Sardo
Três
Leituras de Ana Teresa Pereira, a propósito da publicação de
ATÉ QUE A MORTE NOS
SEPARE e
O
VALE DOS MALDITOS.
Ana
Teresa Pereira: histórias de solidão e amor
Anabela Sardo
A
Irredutibilidade da Imagem
Rosário Gamboa
As
Palavras de Tom
Rui Magalhães
Duarte Manuel Carvalho Pinheiro,
Além-sombras: Ana Teresa Pereira. Tese. Universidade Fernando Pessoa, Porto,
2010. Lisboa, Fonte da Palavra, Novembro de 2011, ISBN 978-989-667-084-9
---. “Quando atravessares o rio:
A surdez das pegadas.” Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Fernando Pessoa (n° 5), 2008: 344-346. Online
aqui.
---. “O fantástico em Ana Teresa
Pereira.” Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Fernando Pessoa (n° 6), 2009: 10-16. Online
aqui.
---. “A linguagem dos pássaros: o
turbamento de Villalilla.” Actas do VI congresso nacional Associação
Portuguesa de Literatura Comparada/X Colóquio de outono comemorativo das
vanguardas." 2009.
Online
aqui.
.---.
“O fim de Lizzie e outras histórias.” Diário de Notícias (revista NS’) 3
de Abr. 2010: 56-57.
---. "Da outra margem do lago.”
Semanário Grande Porto. 13 Mai. 2011: 47.
---. “Geis, a maldição de um
regresso a casa.” Semanário Grande Porto. 08 Jul. 2011: 4. Online
aqui.
Pode ver outras páginas deste site sobre a Autora
aqui
e
aqui.
Esta última contém um
dossier com uma longa entrevista, extraídos do Público.
máxima
MÁXIMA n.º 232, Janeiro, de 2008, pags. 28 e 29
HISTÓRIAS SUBMERSAS
Apresentámos a autora às nossas leitoras
após a sua premiada estreia literária, que ocorreu em 1989. Desde então, Ana
Teresa Pereira tem-se dedicado apenas à escrita, criando um mundo singular e
misterioso. Com A Neve, conquistou o Prémio Máxima de Literatura 2007.
Por Leonor Xavier
A Neve é um romance? Uma
novela? Um conto? Uma prosa poética? A classificação do género deixa de ser
importante quando o texto alcança a harmonia da beleza, dimensão superior do
estilo literário. O livro de Ana Teresa Pereira, distinguido pela 15.ª edição do
Prémio Máxima de Literatura, teve a unanimidade do júri pela qualidade literária
da narrativa, pelo sugestivo desenho das personagens, pela harmonia do estilo,
no alinhamento da linguagem, pelo puro prazer estético dos sons e sentimentos
que oferece. Quem sabe se Ana Teresa terá sido inspirada pela sua terra de
nascer, o Funchal, para a talentosa simplicidade com que integra as suas
personagens no ambiente impressivo que as rodeiam. Na sua escrita, há as
sonoridades que fluem, os elementos que escorrem entre terra e céu, a
intensidade dos silêncios, a fertilidade da natureza.
Falante fluente de francês, inglês,
espanhol, italiano, alemão, sueco, terá evoluído por variados cenários do mundo
para a viagem interior que tão bem exprime na sua obra. Obra que tem sido
disciplina de uma vida exclusivamente dedicada à escrita. São mais de 30 títulos
de ficção publicados, e o romance de estreia, Matar a Imagem,
distinguido em 1989 com o Prémio Caminho de Literatura Policial, pela dimensão
do fantástico que envolve as suas personagens. Personagens como a misteriosa
menina, parceira visível ou imaginária da protagonista de A Neve. A
sensualidade está presente, intensa, na ficção de Ana Teresa.
Feliz pela edição do seu livro mais
recente, Quando Atravessares o Rio, Ana Teresa Pereira fala-nos agora um
pouco de si.
Tem uma
vasta obra publicada. Para si, escrever é dor ou prazer? É disciplina ou arte? É
um divertimento ou uma intervenção na realidade através da ficção?
No conto
The
Middle Years,
Henry
James escreve: “Trabalhamos no escuro, fazemos o
que podemos, damos o que temos. A nossa dúvida é a nossa paixão e a nossa paixão
é a nossa tarefa. O resto é a loucura da arte.” É assim que vejo o trabalho de
um escritor. Acho que escrevi dois ou três livros que me justificam. O que é
muito bom. Escrever como se cada livro fosse o último, aquele em que se joga
tudo. E, quando estamos em perfeita sintonia com o livro, a realidade começa a
ceder (são palavras de Borges). O mundo interior e o mundo exterior misturam-se
de uma forma perturbadora. Quando comecei a escrever Se Nos Encontrarmos de
Novo, compreendi muito cedo que o protagonista era o mesmo Byrne de
Intimações de
Morte. O
que me alegrou, porque tinha a impressão de não saber quase nada a seu respeito
(e eu tinha-me apaixonado por ele e pela Jane). Byrne, fisicamente, era o actor
irlandês Gabriel Byrrne. Revi alguns dos seus filmes, procurei fotografias dele
em revistas... Entretanto fui uns dias a Londres, queria passear nas ruas perto
da casa de Ashley, passear junto ao rio de manhã cedo, ver os “meus” quadros,
comprar livros na Marchpane. E uma noite fui ao teatro e o Gabriel Byrne
sentou-se ao meu lado. Quando mais tarde lhe disse que no meu livro ele estava a
escrever sobre Iris Murdoch, perguntou com naturalidade: “Tu leste
The Sea, the
Sea?”
Foi uma das noites mais estranhas da minha vida, a
noite em que encontrei a minha personagem... Depois não consegui escrever
durante meses. Mas quando recomecei, o livro estava transformado e o final era
diferente.
Como
descreve/define a sua escrita? A sua obra?
Como um longo livro
inacabado. Fragmentos de um palimpsesto. Há uma história submersa da qual tento
aproximar-me, por vezes há algo que se revela e desaparece logo a seguir. É
por isso que para escrever preciso de
chegar a um estado que é quase de consciência alterada (um estado de graça?).
Lembro-me de que passei meses a trabalhar em
A Linguagem dos Pássaros
e depois escrevi a primeira versão em
cinco dias. E essa primeira versão era o livro que eu conhecia, e ao mesmo tempo
era algo de novo, de desconhecido. Não sei bem se passei os meses seguintes a
trabalhá-lo ou a tentar percebê-lo. Cada um de nós tem uma mão de cartas, e é
com elas que joga eternamente. No meu caso, sempre repeti o nome das
personagens, os cenários, as referências. É
como se trabalhasse com um pequeno
número de actores: dou-lhes papéis diferentes, os cenários mudam um pouco...
Um único
livro?
Talvez por isso as repetições. Não
me importava de reescrever inteiramente um livro, mudando só algumas palavras.
Talvez uma única palavra. Mas se fosse a palavra certa... O meu cantinho, numa
remota estante, numa remota sala da Biblioteca de Babel.
Pode
dizer-se que o romance A Neve é prosa poética?
A Neve é um livro
muito cinematográfico. Um filme parecido com um sonho: o espaço, o tempo e a
identidade não têm qualquer consistência. É
um livro sobre um jardim. Um jardim de que
gosto muito, um lugar onde quase acredito na existência de Deus.
Porque se
fala de mistério, a propósito da sua obra?
Talvez porque não separo a
vida da literatura. Não me interessam os exercícios literários mas uma
experiência visceral. Nos últimos livros falo da relação entre a literatura e o
teatro (o cinema). Orson Welles disse numa entrevista que um escritor é como um
actor, tem a faculdade de entrar na pele da sua personagem e de a transfigurar
com o que pode dar de si mesmo. E, como uma personagem, o escritor pode seguir
por caminhos muito estranhos: a vereda que leva à mansão de Sunset Boulevard,
de Billy Wilder; as portas que se abrem para realidades diferentes, em
Inland
Empire,
de David Lynch. Pode ser uma experiência
limite, como em alguns filmes de Cronenberg: inventar uma realidade, vivê-la. E
as personagens de Cronenberg não voltam (não querem voltar) da sua viagem
interior. Acho que um escritor deve ter algo de suicida. Talvez só acredite nos
escritores que “acabam mal”. A alucinação como viso do mundo. Lembro-me de uma
noite, depois de terminar Se Nos
Encontrarmos
de Novo, em
que sonhei com Byrne e com uma frase dele, “tu és escura como a noite, como
Deus”. A impressão de passar a noite inteira a sonhar com essa frase...
Hã uma
escrita feminina?
A questão não é muito importante.
Um grande escritor, homem ou mulher, não se parece com ninguém.
Tem uma
influência inglesa na sua obra. Porque nasceu na Madeira e essa cultura está
próxima de si?
Não. Porque cresci no meio de
livros ingleses. Os vales perdidos de Enid Blyton, as casas de campo de Jane
Austen, a Cornualha de Daphne du Maurier, as ruas de Londres, escuras e cheias
de nevoeiro, dos policiais de Conan Doyle e John Dickson Carr. Acho que sempre
quis voltar a esses lugares. E o resultado é um mundo que não existe do lado da
realidade mas onde as ruas e as casas têm nomes ingleses.
Em pequena,
já escrevia? Queria ser escritora?
Aprendi a ler quando tinha
cinco anos e foi por essa altura que os meus pais me deram o primeiro gato. Os
livros e os animais. Escrevia histórias de todos os géneros, aventuras,
policiais, westerns.
E havia os filmes. Eu seria outra pessoa se não
tivesse visto The
Night of
the
Hunter, Gaslight,
quando era criança. Os meus livros são os meus
filmes.
Como foi o
ambiente em que nasceu e foi criada?
Um pai que me comprava livros e
gostava muito de cinema. Uma mãe muito bonita que gostava de flores.
Que
significado tem para si o Prémio Máxima de Literatura?
Foi algo de inesperado, mas
agradável. É
bom que o nosso trabalho seja reconhecido..
Jornal de Letras, Artes e Ideias
Ano XXVIII / N.º 988
13 a 26 de Agosto
de 2008
Ana
Teresa Pereira
O outro
lado do espelho
Maria
Leonor Nunes
No Outono sairá
O Verão Selvagem
dos Teus Olhos,
o novo livro que está a escrever e que agora “contamina” os seus dias. E até
esta entrevista, feita por mail, como adianta, também ela implicada na ficção,
resposta a resposta, ou no constante jogo de espelhos que é o mundo de
Ana Teresa Pereira.
Entretanto, publicou O Fim de Lizzie, duas histórias, o mesmo cenário, as
mesmas personagens para um ponto de vista sobre a obra de uma das mais
fantásticas escritoras contemporâneas.
Repetidas vezes,
as personagens entram em cena nos seus livros, passando algumas de história para
história. A sua escrita é um fabuloso teatro. De duplos, de identidades, de
obsessões, de lugares comuns como a casa antiga, o mar ou o nevoeiro. Ana Teresa
Pereira, 49 anos e mais de duas dezenas de títulos publicados em quase duas
décadas, pensa mesmo em determinados actores quando cria as suas personagens. Os
seus livros são cada vez mais feitos à imagem do cinema e inevitavelmente do seu
próprio mundo. Nunca separou a sua vida do que escreve. Duke Ellington é a banda
sonora do seu próximo romance, que se vai chamar
O Verão Selvagem
dos Teus Olhos,
seguindo o verso
do poeta irlandês Yeats.
O mundo de
Ana Teresa Pereira não é, de
resto, isento de qualquer coisa de insular. Nasceu em 1958, no Funchal, onde
vive, afastada dos centros literários. Não vai em alardes promocionais, não é
uma presença constante, nem sequer sazonal, nas páginas dos jornais e revistas.
Não figurará no rol dos escritores mais ou menos malditos que se recusam a ser
entrevistados e fotografados, mas não se livra de uma certa fama de
bicho-do-mato. E a sua escrita é verdadeiramente uma ilha na ficção portuguesa.
Estreou-se em 1989, com Matar a imagem, que ganhou o Prémio Caminho
Policial, mas a sua obra cruza também o fantástico ou o western. Até mesmo uma
incursão na Literatura Infantil, experiência qu hoje parece não rever com
agrado. É sem falsas modéstias que afirma que o que escreve é em si “um género”.
E assiste-lhe a razão.
Feliz o instante
em que decidiu largar o curso de Filosofia para se dedicar inteiramente à
escrita. E nunca quis outra coisa que não fosse escrever. Ao correr do tempo,
criou uma obra singular e inquietante, um estilo claro e reconhecível, um lugar
único na Literatura Portuguesa. As personagens, A Última História, Num Lugar
Solitário, Fairy Tales, A Noite Mais Ecura da Alma, A Cidade Fantasma, A coisa
que eu sou, As rosas mortas, O mar de gelo, O rosto de Deus, Quando atravessares
o rio, Até que a morte nos separe, Se eu morrer antes de acordar são alguns
dos seus livros. Recentemente acrescentou-lhes O Fim de Lizzie, uma
edição da Relógio d’Água (144 pp, 8 euros), em que juntou duas histórias já
anteriormente publicadas. Liga-as o mesmo elenco, o mesmo cenário e o mesmo
clima de todas as narrativas de Ana Teresa Pereira que, aliás, já anseia voltar
ao Kevin e à Lizzie, personagens dessas histórias, como a Kate ou o Tom, que vêm
de outras, nesse eterno retorno de que se faz a sua literatura. E pelo caminho,
quem sabe, poderá também escrever um livro sobre cinema. A epígrafe será de
Truman Capote: “Gosto de ti porque és tonta e só sabes da vida o que aprendeste
nos filmes.” Mas não faz planos, assegura, porque “cada escritor tem os livros
contados”, como já escreveu num dos seus romances.
Jornal de Letras: Ao
fim de 20 anos de Literatura e de duas dezenas de livros publicados, construiu
um universo ficcional raro, singular, inquietante e reconhecível: Qual o seu
mistério?
Ana Teresa
Pereira: Há escritores que tentam reproduzir o mundo exterior, outros que
têm um mundo próprio. Eu acho que sempre tive facilidade em aceder ao meu mundo
interior. O outro lado do espelho. O tempo, o espaço e a identidade não têm
qualquer consistência. As leis são as do inconsciente, a omnipotência do
pensamento, a compulsão à repetição. O efeito pode ser “unheimlich”, algo que
deveria ficar escondido mas vem à luz. Nunca separei a minha vida da escrita.
Acho que o escritor deve dissolver-se naquilo que escreve. Nenhuma separação,
ainda que se torne perigoso.
Em que sentido?
O livro que
estou a escrever,
O Verão Selvagem
dos Teus Olhos,
(um verso de
Yeats), contamina a realidade, os meus sonhos, esta entrevista.
O escritor volta
sempre ao local da criação, das histórias, das personagens que cria?
Sempre voltei
aos livros e aos filmes. O vale maldito de Enid Blyton, a casa na árvore de A
Harpa das Ervas, o banco de madeira que surge em vários contos de Henry
James. A rua escura onde Lillian Gishe Robert Mitchum cantam o mesmo hino, a
casa de Londres onde Ingrid Bergman enlouquece aos poucos, enquanto Charles
Boyer se afasta no nevoeiro, o hotel de S. Francisco onde Kim Novak volta de
entre os mortos para os braços de James Stewart. Acontece o mesmo com os meus
livros.
O que a faz voltar
sempre aos lugares da sua ficção?
Eu estava
apaixonada por O Mar de Gelo, as personagens, os lugares, a atmosfera, e tinha
de voltar. Estava apaixonada por Tom, queria vê-lo mover-se, agir, falar. Sentia
a falta de Kate, a sua forma de andar, a sua paixão, até o seu perfume. E voltei
àquele mundo em Quando atravessares o rio. Já tinha acontecido antes.
As duas histórias de
O Fim de Lizzie já tinham sido publicadas? Por que razão as quis juntar
neste livro? São a mesma realidade, a mesma história?
Gostava muito de
Numa manhã fria. O prazer de contar uma história, na verdade duas
histórias que se excluem uma à outra: se Kevin tem razão, a história de Lizzie é
falsa, e vice-versa.
A questão é do ponto
de vista?
Há duas
realidades possíveis e nunca sabemos qual delas tem a ver com o mundo exterior.
Eu mesma não o sei, ainda que tenha uma ideia. Como em A Volta do Parafuso,
de Henry James, temos somente o ponto de vista de uma personagem, e não fazemos
ideia do que está realmente a acontecer. Depois, escrevei O Fim de Lizzie.
As mesmas personagens, o mesmo cenário, e de novo o ponto de vista de Kevin. Não
sabemos a partir de que momento ele começa a alucinar. Mesmo se alguém está a
enlouquecer, essa é a sua realidade. Posso continuar a escrever estas histórias
indefinidamente. Também me interessa a fragmentação da identidade. Há quatro
personagens, mas talvez sejam só três, ou duas, ou talvez Kevin esteja sozinho
em Wistaria Hall e tudo o mais seja o seu sonho. Sozinho num mundo povoado pelas
suas criaturas. Um mundo sem fronteiras visíveis entre a realidade e a
alucinação.
O que lhe interessa
na desdobragem ou na ideia de duplo, muitas vezes presente nos seus livros? A
questão da identidade é para si central?
O duplo, a
fragmentação da identidade, estiveram sempre lá. Nos meus últimos livros, O
Mar de Gelo, Quando Atravessares o Rio, quando as personagens não estão a
representar, não estão a escrever, não fazem a menor ideia de quem são. É quando
estão a trabalhar, quando fingem ser outra pessoa, que têm um vislumbre de quem
realmente são.
A impossibilidade do
amor, é sobre isso que essencialmente falam as suas histórias? Ou na mesma
medida da impossibilidade da realidade e da compreensão do mundo?
Eu não sei (não
faço a menor ideia) de que falam as minhas histórias. Não me diz respeito. As
personagens existem, e caminham, e perseguem-se, e procuram alguma coisa, a
identidade perdia, a redenção, talvez. E depois há o inconsciente do livro, o
livro é algo de vivo, com uma existência própria, atravessado por correntes
subterrâneas. Eu limitei-me a escrevê-lo.
Tudo se joga sempre
entre a realidade e o sonho? De outra maneira, entre a realidade e a ficção?
Orson Welles
disse que um escritor é como um actor, entra na pele da sua personagem e
alimenta-a por dentro. Quando estamos em total sintonia com o livro, a realidade
começa a ceder. É de magia que estamos a falar.
Um jogo de máscaras
Há personagens que
deambulam pelos seus livros, passam de história em história, e sendo as mesmas
são outras e sendo outras são as mesmas? Porquê?
Em especial nos
últimos anos, os meus livros são muito cinematográficos. Tenho um pequeno grupo
de actores, e eles representam as personagens, de certa forma são as
personagens. Kevin é Kevin Bacon, Lizzie é Michelle Pfeiffer no tempo de Os
Fabulosos Irmãos Baker. Um pequeno grupo de actores que passam de um livro
para o outro, como se trabalhassem num teatro, sempre o mesmo; de vez em quando
lembram-se da peça que representaram antes; como o velho actor de The Dresser,
pintam a cara de negro para representar o rei Lear. E vão continuar a
representar, mesmo quando eu não estiver aqui. Talvez repitam as mesmas peças,
noite após noite, após noite.
Será por
acaso que tem um livro chamado As personagens? As personagens são
fundadoras do seu universo literário? Que relação mantém com elas?
É uma relação estranha, a que tenho com as minhas personagens. Nos últimos
anos conheci dois actores que são actores nos meus livros. Gabriel Byrne e
Jeremy Irons. O primeiro de uma forma muito estranha, ficámos ao lado um do
outro num teatro de Londres, quando eu estava a escrever Se Nos Encontrarmos
de Novo, em que ele era o protagonista. E Jeremy Irons estava a representar
Embers quando escrevi Quando Atravessares o Rio. O livro já existia, a trama não
mudou nem um pouco, mas eu não consigo imaginá-lo sem o encontro com “o meu Tom”
na vida real.
Transfere para elas
alguma coisa de autobiográfico?
É um
lugar-comum, mas tudo o que escrevemos é autobiográfico. E se não temos os
actores para representar os outros papéis, arrancamo-los de nós mesmos. É um
jogo de máscaras e de espelhos, e é sagrado.
Qual foi a
primeira personagem da sua escrita? Ainda a visita?
Um homem velho numa biblioteca; uma rapariga que se perde nas ruas numa noite de
nevoeiro e encontra uma loja ainda aberta.
Há outras
“personagens” que atravessam os seus livros: a casa, o nevoeiro… Porquê?
Há pouco tempo
reli Rebecca, de Daphne du Maurier, e tive, mais uma vez, a impressão de
voltar a um lugar que conheço muito bem: a alameda de rododendros, o quarto
fechado onde alguém muda as flores das jarras todos os dias, a enseada com a
casa de barcos. Acontece o mesmo com alguns dos meus contos. Há lugares que já
existem dentro de nós, Gaston Bachelard escreveu sobre isso, nós subimos sempre
a escada que leva ao sótão, descemos sempre a escada que leva à cave, o quarto
no fundo do corredor tem sempre três degraus…
Em que medida são
reflexo da sua geografia pessoal?
Estes lugares
têm a ver com a infância. Se há neve, e nevoeiro, e casas misteriosas na nossa
vida e nos nossos primeiros livros, ficamos marcados para sempre.
A ideia de criação é
também muito presente: por que razão muitas das suas personagens escrevem,
pintam? É um outro jogo de espelhos?
As minhas
personagens fazem aquilo que me interessa, aquilo que compreendo melhor. E de
certa forma criam-se umas às outras e ao que as rodeia, “they do it with mirrors”.
Estão apaixonadas pela beleza das superfícies, mas conhecem profundamente o lado
escuro das coisas.
É certo que se deve
“amor” ao que se cria? É essa a relação com a sua escrita?
Quando era
criança, só me interessavam os livros em que o autor gostava das personagens. O
que me fazia gostar muito de Enid Blyton e detestar a Condessa de Ségur. Eu não
mudei muito. É um dos motivos porque amo os “meus” escritores e desprezo quase
toda a ficção portuguesa. Mesmo quando escrevemos sobre um criminoso ou um
monstro, teos de sentir alguma ternura por ele, alguma compreensão, afinal ele
está em nós.
Aprender com Borges
Por que é que a
pintura ou a música são tão fortes no seu universo?
Pintura, música,
cinema. Sempre foram.
Também pinta? Qual a
sua relação com a pintura?
Não tenho
qualquer talento. Mas quando o faço sou ainda mais obsessiva do que ao escrever.
A pintura de
Kokoschka representa bem a sua atmosfera literária?
Gosto muito de
Oskar Kokoschka. Acho que a mente de Kevin se parece com aquelas pinturas.
Rothko, a certa altura. Whistler. Uma personagem de Quando Atravessares o Rio
viajava para ir ver os quadros de Van Gogh em Amesterdão, os quadros de El
Greco em Madrid. Eu compreendo isso.
E a música?
Variações Goldberg são da sua preferência? Bach? Os outros? Ouve música
enquanto escreve?
Nos últimos
tempos, quando imagino os meus livros, é como se estivesse a preparar um filme.
Há os actores (e quando um actor substitui outro, tudo muda à sua volta), os
cenários e a banda sonora. Muitas vezes, são bandas sonoras de filmes. Em O
Mar de Gelo a banda sonora de Million Dollar Baby, em Quando
Atravessares o Rio a de Pride and Prejudice. No livro que estou a
escrever agora, Duke Ellington.
Nos seus livros
também há um rasto permanente de outros escritores.
De certa forma,
queremos reescrever os livros que nos tocaram. No meu caso, A Aventura no
Vale, A Intrusa, A Volta d Parafuso, A Árvore da Noite… E os filmes, A
Noite do Caçador, Matar ou Não Matar, À Meia Luz, Vertigo… E como não é
possível, a não ser que nos transformemos em Pierre Menard (e mesmo ele não
conseguiu), criamos um mundo que nunca existiu antes, onde nos podemos oerder de
novo, e ser felizes, ou infelizes, como fomos uma vez.
O seu lastro literário é essencialmente anglo-saxónico: porquê?
Borges dizia que
tinha nascido numa biblioteca inglesa. Eu também. Não sei se é visível a
importância que Borges teve para mim, aprendi com ele a escrever sobre livros
que não existem, sobre filmes que não existem. Uma vez escrevi uma crónica sobre
ele e mencionei um livro que não existia, e creio que ninguém deu por isso.
Já experimentou o
policial, o fantástico, a literatura infantil: sente necessidade de experimentar
diferentes registos? Qual aquele em que se sente mais à vontade?
Pode parecer
pretensioso, mas acho que os meus livros constituem um género.
Há quem
detecte uma marca «gótica nos seus livros. Concorda?
Talvez. No filme Sunset Boulevard, quando William Holden segue pela alameda que
leva à mansão, está a passar para um mundo diferente. Acho que isso acontece nos
meus livros. Uma velha casa com um lago (ou uma piscina) à frente, duas casas
iguais em frente uma da outra, uma biblioteca com uma lareira acesa, duas ou
quatro personagens...
Também há quem a
considere sobretudo uma escritora de policiais: assenta-lhe a classificação?
Eu gostava
muito. Mas nunca poderia escrever um livro tão com como O Enigma da Cripta,
de John Dickson Carr, A Mulher Fantasma, de William Irish, A Máscara
da Desonra, de Minette Walters.
Livros feitos de tempo
Quando começou a
escrever? Ainda na infância?
Não me lembro de
um tempo em que não escrevesse. Comecei a ler muito cedo e escrevia aventuras,
histórias policiais, westerns. Era um jogo como os outros.
O que a levou a
estudar primeiro Filosofia? E depois a trocá-la definitivamente pela escrita?
Compreendi que
tinha de fazer muitas coisas diferentes, ter experiências diferentes, antes de
ser escritora. Mas sempre quis escrever.
Escreve sempre,
todos os dias?
De forma alguma.
Marguerite Yourcenar disse que o essencial não é a escrita, é a visão. Mas para
merecermos a visão é preciso muito tempo. Os livros são feitos de tempo. Temos
de ler, ver filmes, amar alguém ou alguma coisa, viajar, quem sabe encontrar as
nossas personagens… e, acima de tudo, esperar. É preciso descer muito fundo para
chegar ao lugar onde o livro se forma. Quando me sento para começar a escrever,
o livro já está terminado mentalmente.
É a
literatura que a ajuda a «atravessar a noite?
Os livros, os filmes. Quando comecei a escrever, pensava que os meus livros iam
ficar, que iam ser traduzidos, enfim... Agora sei que isso não vai acontecer. O
Cristopher Hampton não vai escrever uma peça baseada num livro meu, o David
Cronenberg não vai fazer um filme... Talvez não passe o resto da minha vida a
escrever, mas a fazer outra coisa. Mas continuarei a ler Richmal Crompton e
William Irish, e a ver os filmes de Nicholas Ray e Hitchcock. Para atravessar a
noite.
Porque escolheu
viver no Funchal?
Acho que viver
no Funchal é melhor do que viver em Lisboa. Na verdade, gostava de passar o
resto da minha vida noutro país, a Irlanda, por exemplo.
Parece
isolar-se deliberadamente na sua ilha, afastando-se da chamada vida literárias.
Parece também avessa a todas as artes do marketing, aos lançamentos e palestras:
porquê? É uma escritora enigmática ou simplesmente preza a discrição?
A vida é demasiado curta para fazer coisas que não me agradam."
|
A
ordem do caos
Um romance de amor e morte, da vingança
das forças da terra e da lua
AS ROSAS
MORTAS, Relógio de Água, 1998 ---
NESTE último
livro de Ana Teresa Pereira, o seu primeiro romance pela extensão, e não
policial pelo registo, culminam todas as obsessões e estratégias até
aqui exploradas por esta autora, fértil pelo modo sempre diferente como
no las apresenta.
A
inspiração britânica evidencia-se logo na capa - o quadro The Day
Dream (1880), onde Dante Gabriel Rossetti usou como modelo Jane Burdon,
depois Morris. A influência de Rossetti prolonga-se texto adentro, num
poema citado: «I have been here before» («Sudden Light») a
sugerir a ligação entre os amantes vinda de vidas anteriores. E começa
assim o primeiro capítulo: «É a primeira vez que nasço como mulher.
Há ainda em mim um rasto de bicho, um rasto de nevoeiro.» Esta é a
protagonista, pintora e modelo de si própria, também escultora: «Vesti
a T-shirt branca de trabalho e sem tomar duche fui para o atelier. Ao fim
de algumas horas, o ser que me saiu das mãos era o mais horrendo de
todos, e ao mesmo tempo o mais comovedor. Fiquei a olhá-lo durante algum
tempo e depois enterrei os dedos na massa mole até desfazer a figura por
completo» (pág. 67). Pela redundância da roupa e dos gestos,
entende-se que seja a figura do prólogo, onde a escultura se transforma
em bruxaria, ironizadas como duplicação do acto criador genésico: «A
mulher procurou qualquer coisa no bolso da camisola: uma minúscula bola
de pêlos de gato e duas penas de pássaro. Mergulhou as mãos na terra,
tirou um pedaço de lama e misturou-a com as folhas, as flores, os pêlos,
as penas. Os seus dedos ágeis amassaram por momentos aquela matéria, e
começaram a modelar uma figura» (pág. 13). Esta mulher que trabalha
o barro, acaba também a modelar à sua maneira os seres humanos e os seus
destinos. Chama-se Marisa. Conhece Paulo, aspirante a poeta, numa exposição
sua: «Ele ficou perturbado a primeira vez que o trouxe a casa. A minha
casa, no centro do meu jardim murado. Os hotéis (...) aproximam-se com
uma rapidez terrível, mas ela está ali, ainda sozinha, as árvores
protegem a sua intimidade. É enorme e parece-se com uma gravura antiga,
com manchas do tempo, com a beleza um pouco triste do tempo e do
abandono./ Um velho castelo» (pág. 26). Um castelo assombrado para
uma princesa-bruxa. Paulo começa a ser arrastado para o mundo de Marisa,
a mulher-elfo que se pinta envolta em nevoeiro, monstros e asas de pássaros.
«Os pássaros dormiam nos seus ninhos e os monstros no fundo das
cavernas, no ventre da terra. Tudo estava igual. Mas ele transformava-se,
lentamente... e tinha medo, tanto medo./ E não me acreditava quando lhe
dizia que devia deixar a metamorfose ir até ao fim» (pág.63). A fé
de Paulo não lhe dá forças para vencer o medo nem os monstros, e
recorre à ciência. Entrega-se nas mãos de Miguel, um psiquiatra com
nome de Arcanjo. Mas Miguel não reconhece a diferença entre «a doença
humana e o toque dos deuses» e, apesar do seu nome, não sabe falar
nem reconhecer a linguagem dos anjos e dos pássaros. Marisa define-o: «o
'sujeito suposto saber', o 'médico da alma', cheio de segurança, pronto
a perceber o amor e o ódio, a explicar o suicídio, a desfazer de uma
palhetada a existência de Deus ou o medo da morte, o 'sujeito suposto
saber' que tanto pode receitar um ansiolítico como electrochoques»
(pág. 201). Por oposição, parte deste romance ecoa e inverte a intriga
de Num Lugar solitário - em que Ana Teresa se debruça sobre a
relação médica-paciente durante e depois da análise. E também aqui
ataca a situação de «transfer», embora sendo outra a tónica, e mais
elaborado o modo.
Miguel
é casado com Helena, formando ambos o segundo par da história. Um casal
burguês exemplar, com vida, filhos e uma casa exemplares. Solar. Helena: «não
sonhava com répteis e serpentes, e se sonhava esquecia os sonhos, aquela
mulher não tinha nada a puxá-la para baixo, para o caos, vivia à superfície,
vivia na luz, na segurança» (pág. 91). E também eles vão ser
contaminados pelo mundo lunar de Marisa.
O
romance vai evoluindo a explorar - nunca de forma primária - a luta entre
o solar e o lunar, encenando os antagonismos entre duas ordens de valor
igual e sinal diferente; a impossível pretensão de o primeiro entender o
segundo com regras e normas suas; a força persistente do segundo em
exigir o cumprimento das suas leis inexoráveis. Mesmo a Marisa, que no
final invoca de novo a tradição inglesa, identificando-se agora com a
figura feminina da «Lady of Shalott» de Tennyson - a mulher encerrada na
torre do seu castelo, que só podia olhar o mundo por intermédio de um
espelho. Nele vê Lancelot, por quem se apaixona. Vira-se. O espelho
quebra-se, e cai-lhe em cima a maldição que a prendia, e que ela própria
ignorava qual era. E por aqui, o prólogo revela-se também como epílogo.
Dedicado
aos gatos, o livro apresenta-se dividido em quatro partes. Cada uma delas
vai buscar o nome a uma das cartas do Tarot: o Louco, a Grande
Sacerdotisa, os Amantes e a Lua. Um outro espelho. Ou a ordem possível ao
caos.
HELENA BARBAS
EXPRESSO –
15-8-1998 |
O
desejo não resulta
A
literatura de quiosque paredes-meias com a erudição
Fátima
Maldonado
O
VALE DOS MALDITOS
de
Ana Teresa Pereira
(Black
Sun Editores, 2000, 76 págs.)
|
Ana
Teresa Pereira é um caso bem interessante na literatura portuguesa, que vive de
enfatizações, equívocos e tragédias e cresce quase por inteiro à sombra das
instituições. Com ela passa-se tudo num plano aparentemente mais minimalista.
Mas o universo literário em que se desloca é de reflexos que se interpenetram
e desdobram e repartem até se estilhaçar o estanho que os conteve.
Deste modo
tudo se adensa, muito mais complexo do que ao primeiro relance poderia supor
alguém desprevenido.
|
|
|
A
sua estrada é recta pelo menos desde o primeiro livro que dela li, Matar a
Imagem, que em 1989 ganhou o Prémio Caminho de literatura policial. Já lá
estava tudo: a erudição (acaba por não irritar e até se torna bem compensatória
nesta casa do mundo onde à degradação comum se chama agora divertimento), a
neurose elegantíssima, a obsessão vampírica, a fixação no duplo, o snobismo
wildiano. E ainda o interesse pela cultura popular, que não é incompatível
com o resto, antes desejável num território tão contaminado pelas várias
burocracias da escrita. «E anos mais tarde lera o mais estranho dos policiais
(talvez porque não era um policial): Married a Dead Man, um jogo no qual os
dois jogadores perdem. Irish, infeliz e alcoólico, fechado no seu quarto
durante anos, Irish que queria escrever como Fitzgerald. Não fora um Fitzgerald
mas criara um universo que não se parecia com coisa nenhuma», conta em Matar a
Imagem.
Examinar
o percurso desta escritora de trás para diante, começando pelo policial e
acabando no que julgo ser o seu último livro, O Vale dos Malditos, Black Son
Editores, surpreende. Aconteceu-me já estar um pouco saturada dos livros em que
ela fazia suceder num alucinante projectar a casa eterna habitada por seres maléficos,
paixões deletérias, sangue e perfume de rosas e sempre a mesma narcisíssima e
anoréxica criatura. Mas quando, de repente, surge este «western» como deve
ser - capa a rigor de Paulo Scavullo -, com uma citação de William Blake a
abrir: (...) «Some are Born to sweet delight,/ Some are Born to Endless
Night», é uma delícia. Porque a
história é boa, tão boa que lembra ao longe Duelo ao Sol. Mas em O Vale dos
Malditos o casal proscrito ficará junto para sempre, de certeza para sua
infelicidade perpétua. Felizmente a boa rapariga morre, evitando assim que Tom
Stuart, o herói, se estabeleça e integre o rebanho. E há também um bandido
que não é o que se esperava e um clima de híbrida ascendência - Tom Stuart
é meio índio, como convém aos bons vilões e incapaz de afectos como também
é costume.
O
mais interessante de tudo isto prova a capacidade de Ana Teresa Pereira renovar
géneros inoculando-lhe sangue fresco. O que é entre outras uma das características
que a literatura exige para não desmaiar. E nesta pretensa obra revivalista,
ela consegue, sem quebrar a estrutura clássica do livro de «cowboys» que se
comprava por 25 tostões nos antigos quiosques, pôr o herói/vilão a ler
William Blake, invertendo-lhe o destino de rude macho e instilar já perto do
fim um clima donde os corvos de Edgar Poe não estão ausentes. Ou seja, obrigar
o romance popular a conviver paredes-meias com os suportes da literatura fantástica
sem quebras de ritmo ou dissonância. Grande lição para os paladinos da
literatura extática. E quem defende que a cultura popular é incompatível com
a erudição deveria limpar-se a este guardanapo, para acabar num registo vulgar
de Lineu, como se diz nos relatórios das autópsias.
EXPRESSO,
20-1-2001
A
CEGUEIRA DOS SERES APAIXONADOS
|
Até
que a morte nos separe - Relógio d'Água, 2000, 100 pags.
A
novela de Ana Teresa Pereira, “Até que a morte nos separe”, tem o
sonho e a memória cinéfila dos amores malditos
Até
que a morte nos separe, novela de Ana Teresa Pereira, está para a
literatura portuguesa como a doçaria para a culinária: à primeira
vista, trata-se de um tipo de alimento pouco substancial; depois, quando
se prova, descobre-se que teria mais calorias do que seria previsível. E
não é apenas o valor alimentar que se evidencia na leitura. As
sobremesas parecem simples de fazer, mas, como qualquer gastrónomo sabe,
exigem verdadeiro talento. |
|
A
novela tem o ingrediente da simplicidade, mas daquela que é mais difícil de
conseguir. O ambiente é do cinema negro americano, a chamada “Série B”,
mas também o dos policiais de Raymond Chandler e dos diálogos poderosos de
filmes como Johnny Guitar, Vitória Anarga, Cega Paixão, Ter ou não Ter,
Difamação, etc. São estes os territórios em que se movem as criaturas etéreas
da história, imagens a preto e branco que sustentam um livro onírico, em que o
leitor é inundado de fortes e simples sugestões poéticas.
Tom
Stuart, Tenente do Departamento de Homicídios, conhece uma mulher num bar e
enamora-se dela: “Pareces um anjo. Um anjo negro”, diz Tom, que imagino como
Robert Ryan, em On Dangerous Ground (Cega Paixão), o filme de Nicholas
Ray (que a autora refere explicitamente no texto); ela, Patrícia (Ida Lupino?),
também possui um segredo. Depois, há a filha cega do tenente e o mistério
obscuro que envolve todas as figuras.
Enfim,
o dispositivo de história policial entrelaça-se com a memória cinéfila. Esta
novela melancólica encena personagens perdidas no labirinto do amor e no medo
da morte dessa paixão cega. A imaginação da autora é visual, recheada de
referências culturais a livros, pinturas e filmes. O excesso desses pormenores
é, aliás, o defeito visível da obra. A repetição de personagens a ler
livros ou a recordar películas, citando passagens dos mesmos, lembra um pouco a
interferência do árbitro num bom jogo de futebol. Até que a morte nos
separe é um texto suficientemente culto e sensível para dispensar metade
destas demonstrações de erudição.
O
defeito (que não passa, afinal, de uma impressão muito subjectiva deste
leitor) torna-se quase irrelevante numa novela tão bem escrita. Os textos do prólogo
e do epílogo são duas pequenas maravilhas, de grande beleza, quando se lêem
em voz alta: “Agora sei que o amor existe, conheço o rosto dele, os seus
olhos, o seu corpo, sei que me ama. E tenho medo dele, como sei que ele tem medo
de mim, porque somos o lado negro um do outro, o rosto da morte um do outro”.
Este é apenas um exemplo que mostra o cuidado da prosa. E muitas outras
passagens podiam ter sido escolhidas.
Os
diálogos são irrepreensíveis e recheados de frases conseguidas; as
personagens possuem complexidade e espessura; a história flui e o texto lê-se
sem esforço, apesar da profundidade das ideias. Enfim, o livro de Ana Teresa
Pereira brilha de fantasia, num clima de fatalidade e sonho.
LUIS
NAVES, em Diário de Notícias, 28-1-2001

A
CASA DOS ESPELHOS
| |
|
A
OBRA DE ANA TERESA PEREIRA TEM VINDO A AFIRMAR-SE DESDE 1989, DATA
DA PUBLICAÇÃO DO SEU PRIMEIRO LIVRO COMO UMA DAS MAIS
INTERESSANTES E MULTIFACETADAS DO ACTUAL PANORAMA LITERÁRIO PORTUGUÊS.
UTILIZANDO A MATRIZ POLICIAL, DO FANTÁSTICO, DO LIVRO PARA CRIANÇAS,
ATÉ AO MAIS RECENTE, COM UMA INCURSÃO AO UNIVERSO DOS WESTERNS,
A AUTORA MADEIRENSE CONQUISTOU UM PÚBLICO FIEL E SOBRETUDO UM
TERRITÓRIO MUITO PRÓPRIO, COM TEMAS FORTES MUITO SEUS, E UMA
CAPACIDADE INÉDITA DE REVITALIZAR GÉNEROS OU SUB-GÉNEROS. NO
ENTANTO, ESSA DIVERSIDADE DE ENQUADRAMENTO NÃO RETIROU UMA LINHA AO
QUE É O VEIO DE FUNDO DA SUA AVENTURA COMO ESCRITORA, “ PORQUE
TUDO NO UNIVERSO ESTAVA ESCRITO, OU ANTES, TUDO ERA UMA ESCRITA”,
OU TALVEZ PORQUE “ALGURES NO UNIVERSO A SUA VIDA ESTAVA ESCRITA, E
TALVEZ FOSSE ASSIM UM DESENHO PARECIDO COM UMA CONSTELAÇÃO”.
|
|
|
| |
|
O jogo da escrita, o prazer dos reflexos para sempre sublimados, o
permanente reenviar para uma referência literária ou cinematográfica
constituem-se nela como materiais de feitura de um mundo
aparentemente encerrado em alguns tópicos reconhecíveis, mas que
se desdobram constantemente como imagens de imagens, num número
infinito de variações que só duplo espelho permite e afirma. Uma
casa, um casal, uma situação nunca inteiramente clara, um sonho,
um mistério, um desejo fundo e inatingível, uma reminiscência,
tudo se conjuga para dotar os seus livros de uma atmosfera única,
onde os ecos de histórias fantásticas, sombras animadas pelo luar
cobram vida e se transformam numa paisagem sempre a mesma, mas
sempre nova. É como se um olho se movesse procurando novos ângulos,
ou uma câmara captando novos contornos adivinhados, perseguidos,
temidos.
“Aquilo
não era felicidade, era outra coisa, sentia-se plena, e vazia, era
o mesmo, sentia que o seu corpo estava dentro do ovo, inseparável,
de tudo o resto, e o seu corpo era também aquilo que nela não era
corpo. E tudo o que ela era não tinha grande consistência,
esbatia-se no resto, o mundo passava por ela como se não estivesse
ali, como um sopro... e não havia distância porque não havia
separação, só a unidade, a presença absoluta”. A citação é
longa mas vale todo um programa, uma demanda, um objectivo que se
antevê mas que dificilmente se alcança, porque a matéria humana
lhe opõe resistência.
Essa
resistência tem a consistência dos sonhos e do luar, por isso o
que esta escrita vê no mundo é apenas um indício do que se
procura e nunca o derradeiro traço que se compõe, para ser
revelado noutra ocasião, quando a constelação assim o permitir.
Universo onírico e fantasmático, o mundo de Ana Teresa Pereira faz
despertar as páginas que escreve como se já estivessem escritas
antes da inevitável solarização, é um mundo do que há-de ser
porque tem de ser, um mundo que está à distância de um reflexo. E
porque no mundo dos reflexos tudo é possível, eis como o engano
nos aproxima da tal presença absoluta que nos espera e nos chama.
O Vale
dos Malditos,
Black Sun Editores, 2000
Se eu
Morrer antes de Acordar, Relógio d’Água, 2000
Até
que a Morte nos Separe, Relógio d’Água, 2000
José
Guardado Moreira,
em
LER,
Livros e Leitores n.º 50, Primavera 2001
|
|
|


Atual n.º 2088, de 3-11-2012
LIVROS
A escritora que na semana a
passada viu o seu último livro premiado pela APE não é facilmente classificável
Texto Antonio Guerreiro
Ana Teresa Pereira, que ganhou este
ano o Grande Prémio do Romance e da Novela da Associação Portuguesa de
Escritores com o romance “0 Lago” (Relógio D’Agua, 2011), é um caso singular no
panorama atual da ficção narrativa da literatura portuguesa. Servem-lhe, com
justeza, estes predicados: prolixa - trinta livros desde 1989, eclética —
cultiva uma pluralidade de géneros, obsessiva - nas referências, nos cenários e
nas personagens que transitam, com o mesmo nome, de livro para livro. Nascida no
Funchal, em1958, os lugares literários de Ana Teresa Pereira situam-se no
entanto noutro lado — em Londres, na Escócia, em Dublin, em Amesterdão - e
apresentam paisagens de características muito mais nórdicas, com montanhas,
neves e lagos. Manifestamente, a paisagem física e intelectual da sua ficção não
é reconhecível no seu espaço biográfico. Um dos raros livros onde descobrimos
uma referência madeirense (o continente, esse, não existe em absoluto, na sua
obra e, pelo que pudemos ler numa das suas raras entrevistas, também não tem
grande. existência em qualquer outro plano) é “A Neve” (Relógio D’Agua, 2006)’,
constituído por prosas breves, de carácter narrativo, que tem esta dedicatória:
Para a Quinta do Palheiro Ferreiro, onde nasceram tantas histórias”. Tal quinta
fica numa zona alta, já fora do Funchal, e é conhecida pelos seus belíssimos
jardins. Ma os livros de Ana Teresa Pereira estão povoados por personagens com
nomes quase sempre- ingleses, que parecem saídos de filmes (Hitchcock, por
exemplo, fornece-lhe um manancial considerável de figuras) e de livros (Jane
Austen, Henry James, Iris Murdoch e tantos outros, quase todos da literatura
inglesa). Digamos, então, que a escritora parece mover-se no mundo da ficção
como se ele fosse a sua realidade, ate ao ponto em que deixa de haver um
interior e um exterior da literatura. A criadora deste mundo alucinado pode
mesmo descrever filmes e livros que não existem. E, no entanto, não se trata de
‘literatice’, de uma escrita que entra no jogo de fazer da literatura o
seu próprio e único objeto. Nada disso: nas narrativas de Ana Teresa
Pereira, os livros, os filmes são um mundo habitado e habitável, do qual se
alimenta o imaginário, a vida interior e a própria criação de mundos possíveis,
com as suas histórias. E se, ao falarmos da sua obra, somos obrigados a falar
não apenas de livros, mas também de filmes e porque a escritora faz apelo a uma
vasta cultura cinematográfica (muitas vezes de. maneira explicita, as vezes
veladamente). Há um diálogo entre as artes, sem hierarquias, que traz para a
ficção de Ana Teresa Pereira a literatura, o cinema, o teatro, a pintura. E tudo
isso como se fosse o único mundo real que existe.
Num altura em que assistimos a
proliferação e ao triunfo desenfreado de um tipo de romance que já deixou de ser
um género literário para se tornar um mero género editorial - um tipo de
romance que parece saído das oficinas de “escrita criativa, com os seus truques
pindéricos e os seus números de ‘ prestidigitação — as narrativas desta
escritora situam-se noutro lado: do lado de um mundo interior obsessivo,
inquietante, que não procura fazer piruetas para ir entretendo os leitores
(acrescente-se, aliás, que a pessoa da autora também nunca foi vista a fazer
piruetas e a oferecer os seus préstimos para animar a vida
mundano-literária). E, talvez, por essa dimensão obsessiva, pelo valor da
reiteração e da insistência em lugares e personagens, o universo literário de
Ana Teresa Pereira ganha uma maior consistência, e torna-se mais interessante,
se o acompanharmos no seu percurso, de livro para livro.
Por outro lado, ao contrário de uma
vasta produção romanesca (o júri do prémio da APE tinha mais de cem romances
para apreciar) que, em grande parte, parece não nascer de nenhuma memória
literária, esta escritora, pelo contrário, parece movida por uma hipermemória
literária - ou melhor, por um imaginário fornecido pela literatura e pelo
cinema - que não dá no entanto origem a uma literatura exasperada.
Ana Teresa Pereira estreou-se em 1989
com um romance, “Matar a Imagem”, que ganhou um prémio de literatura policial.
Alguns elementos e características do policial aparecem disseminados noutros
livros, que só muito parcialmente aludem às regras de tal género. No entanto, a
escritora cultivou sempre uma literatura de género, mesmo que de maneira impura
e eclética o fantástico, o maravilhoso, o gótico, as ghost stories e até
o western. Esta literatura de género é, geralmente, considerada uma
literatura menor. Ora, Ana Teresa Pereira baralha completamente os dados, cruza
literatura maior com literatura menor, literatura com cinema, e chega a um
resultado em que tais classificações deixam de ser pertinentes. O que triunfa,
isso sim, é a inclinação para um mundo em que até o que é próximo e familiar se
torna inquietante (mas não é isso, precisamente, que Freud quis apreender com o
conceito de Unheimliche?), um mundo de fantasmas e cheio de histórias de
duplos, em que um Henry James e um Hitchcock surgem como demónios
tutelares. E é de demónios que devemos falar porque a obra de Ana Teresa Pereira
dirige-se com determinação para as zonas do sinistro, do sombrio, do diabólico.
Habita-a muitas vezes silenciosamente, nos seus recantos -- o demónio da
perversidade.